No Museu Judaico, em SP, fala de Monark é 'risco para todos os perseguidos'

Alguém bêbado defende o direito de se ser antijudeu a uma audiência enorme. Entre as mesas e corredores do Museu Judaico, recém-aberto em São Paulo, corria solta na quarta-feira (9) a repercussão das falas de Bruno Aiub, conhecido como Monark, apresentador do "Flow Podcast". No dia anterior, enquanto entrevistava os deputados federais Kim Kataguiri (DEM-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP), Monark havia defendido também a existência de um partido nazista no Brasil.
A fala fora imediatamente rebatida pelo Museu na terça-feira, em uma nota nas redes sociais, por "ferir a história e existência dos judeus" e ser "considerada crime". No texto, a equipe enfatizava que "manifestações de intolerância e opressão a qualquer grupo social ou identitário são inadmissíveis, devem ser combatidas e jamais serem confundidas com a liberdade de expressão".
Aberto em 5 de dezembro de 2021, após duas décadas de planejamento, o espaço já recebeu cerca de 12 mil pessoas. Ele funciona na antiga sede da Congregação Israelita Templo Beth-El, prédio dos anos 1920 na esquina das ruas Avanhandava e Martinho Prado. No acervo há 1 milhão de documentos, 20 mil livros, 100 mil fotografias e mais de 2 mil objetos, com foco na presença dos judeus no Brasil.
O crime da ignorância
"A cultura judaica é baseada em narrativas e histórias. Por isso, tudo no museu está atrelado a essas narrativas", explicava a atriz Dinah Feldman Harari, 43, responsável por 20 monitores — metade deles é judeu, como ela. O grupo atende diariamente aos visitantes, visitas teatralizadas com base nas festas semitas e contação de histórias. "A ideia é mostrar a pluralidade da nossa comunidade, a diversidade de pensamentos e comportamentos e achar caminhos que se cruzam, inclusive com outras culturas."
"Existe um lado que é de repúdio a essa fala e de encaminhamentos jurídicos, e existe outro lado, que é nosso papel, de chamarmos a atenção das pessoas para se informarem", comentava o diretor executivo do museu, Felipe Arruda, ao TAB. "Essa declaração [do youtuber] é menos um compartilhamento de ideais nazistas e mais um desconhecimento da história", opinava. "Não se deve normalizar o nazismo."
O antissemitismo banalizado nas redes sociais é uma preocupação da própria instituição. Para entrar no museu, por exemplo, é necessário passar por um aparelho detector de metais, como o de aeroportos — procedimento padrão adotado por sinagogas e espaços da comunidade judaica desde um atentado com carro-bomba na sede da Associação Mutual Israelita Argentina (Amia), em Buenos Aires, em 1994. Na ocasião, morreram 85 pessoas e outras 300 ficaram feridas.
Memória dolorida
"Uma mulher entrou aqui, agora há pouco, perguntando onde fica a parte sobre o Holocausto. Ela queria ver", contava o monitor Ernesto Mifano Honigsberg, 24. Para receber o acervo, a antiga sinagoga foi adaptada em cinco andares — três deles abaixo do nível de entrada.
No primeiro subsolo, o jovem rapaz conduzia pela exposição "Judeus no Brasil: Histórias Traçadas", que aborda a pluralidade da presença judaica no país ao longo dos fluxos migratórios desde o século 16. No final da sala, no canto mais afastado, uma área é dedicada às memórias da Segunda Guerra Mundial e do nazismo.
"Gosto de dizer que esse é um museu sobre esse lugar em que estamos", antecipava Honigsberg, ao chegar num dos trechos mais tristes do percurso. "É importante dizer que essa situação de agora, na defesa de um partido nazista no Brasil, é antiga. Olha aqui essa foto. Se não houvesse uma bandeira do Brasil nela, podíamos dizer que era na Alemanha", apontava o rapaz para uma imagem de uma cerimônia da colônia alemã no Rio de Janeiro, em 1930, onde se viam as bandeiras do Brasil e do Terceiro Reich, lado a lado.
Em vitrines ao lado, objetos de sobreviventes da guerra ajudam a recontar histórias de pessoas que conseguiram fugir para o Brasil. Um vídeo reúne imagens de corpos em campos de concentração.
"É difícil para mim entrar nesse andar", confessava o monitor, emocionado. Seus avós conseguiram escapar da Alemanha de Hitler. Primeiro foram para Montevidéu e depois chegaram a São Paulo, em 1948. "Eram dois músicos. Se conheceram em um trem e se apaixonaram. Eles sobreviveram, mas tiveram parentes mortos."
"Tudo isso aqui é prova de uma história que aconteceu. Parece longe, mas não está", dizia Ernesto Honigsberg, encaminhando-se para uma parede com manchetes recentes de assassinatos no Brasil. Os quadros fazem referência a situações de violência cotidianas no país, como as mortes de pessoas negras, indígenas e transexuais no país. "Precisamos estar alertas não só com os riscos e ataques aos judeus, mas a todos os grupos perseguidos até hoje."
O nazismo também matou negros, ciganos e homossexuais.



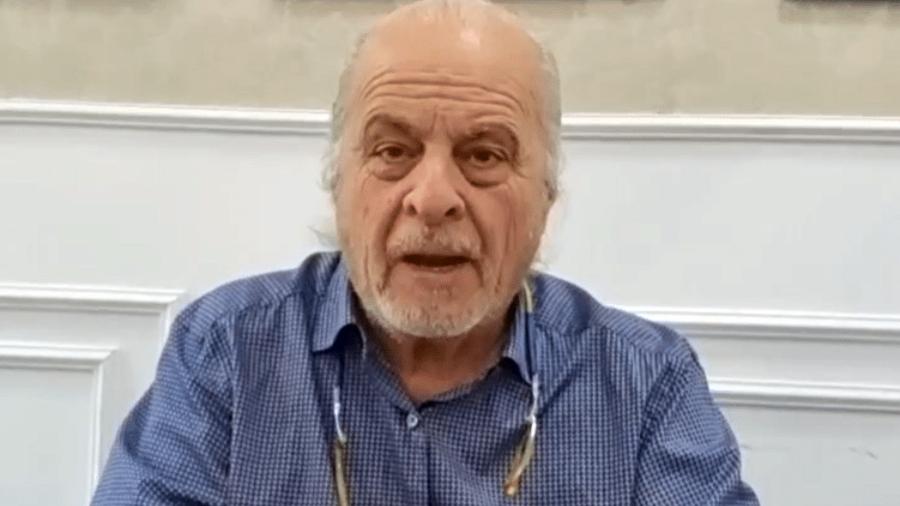













ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.