No lugar de batimentos cardíacos, silêncio.
O silêncio que marcou uma certa sessão de ultrassonografia dá trégua apenas em ocasiões como a daquela sexta-feira chuvosa no começo de maio, em São Paulo. É quando elas não se sentem deslocadas. Naquele espaço e momento, elas são mães. Mães de anjos, como gostam de dizer. Acolhem umas às outras, pois compartilham um tipo de dor que, dizem, não é compreendida.
“Eu não sei o que sou: já não sou mais a mulher que nunca teve uma criança, mas também não sou uma mãe porque o meu neném morreu” é uma espécie de mantra coletivo, e foi ouvido algumas vezes durante o lançamento do livro "Histórias de Amor na Perda Gestacional e Neonatal”. A obra reúne relatos de mulheres que sofreram um aborto espontâneo ou óbito fetal e foi organizado por Larissa Lupi, uma das fundadoras do grupo homônimo.
Carentes de encontros presenciais, as 10 mulheres presentes ao evento estavam ávidas para trocarem histórias sobre bebês que não chegaram a chorar no parto. O número pode parecer pequeno, mas são mais de 4,2 milhões de mulheres no mundo que lidam com um luto que elas consideram invisível para a sociedade. O grupo lembra que, se uma mulher perde um filho já crescido, ela não é vista como uma “ex-mãe”. Porém, o mesmo não vale para pessoas que perderam bebês ainda durante a gestação.
Luto Invisível
Elas se sentem mães de crianças que não nasceram. E são julgadas por isso
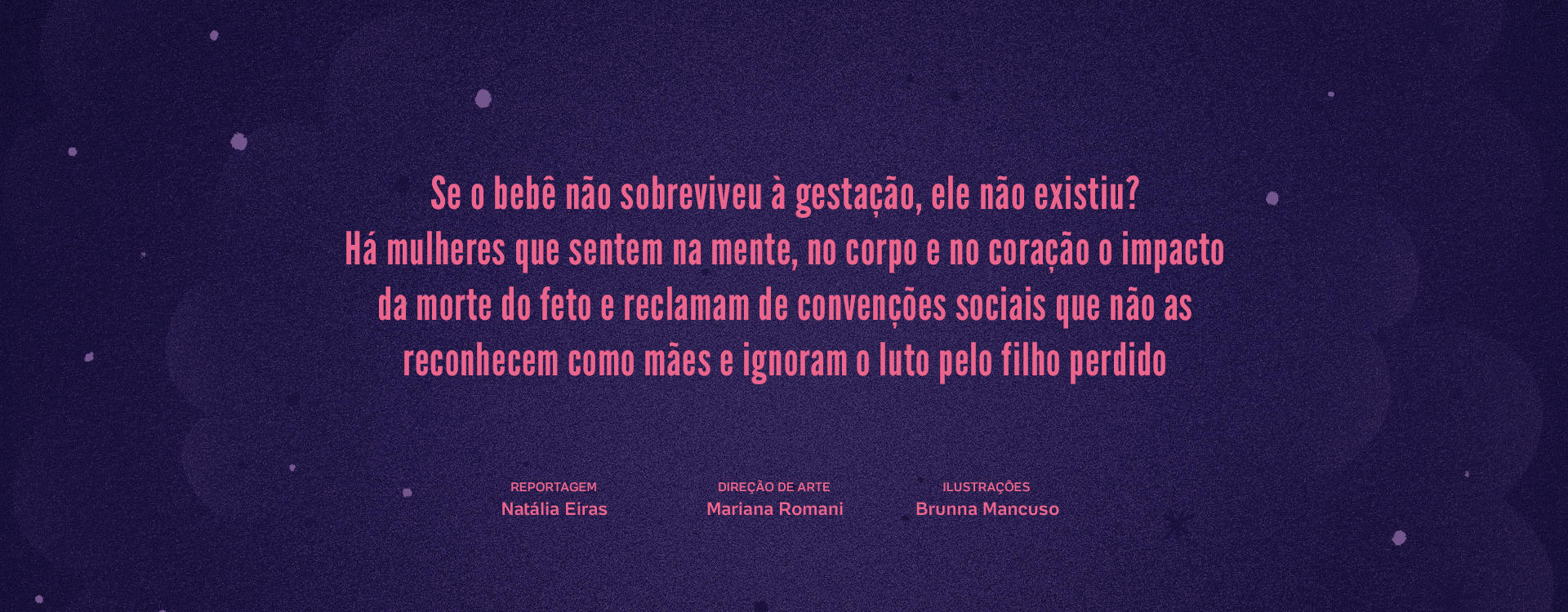
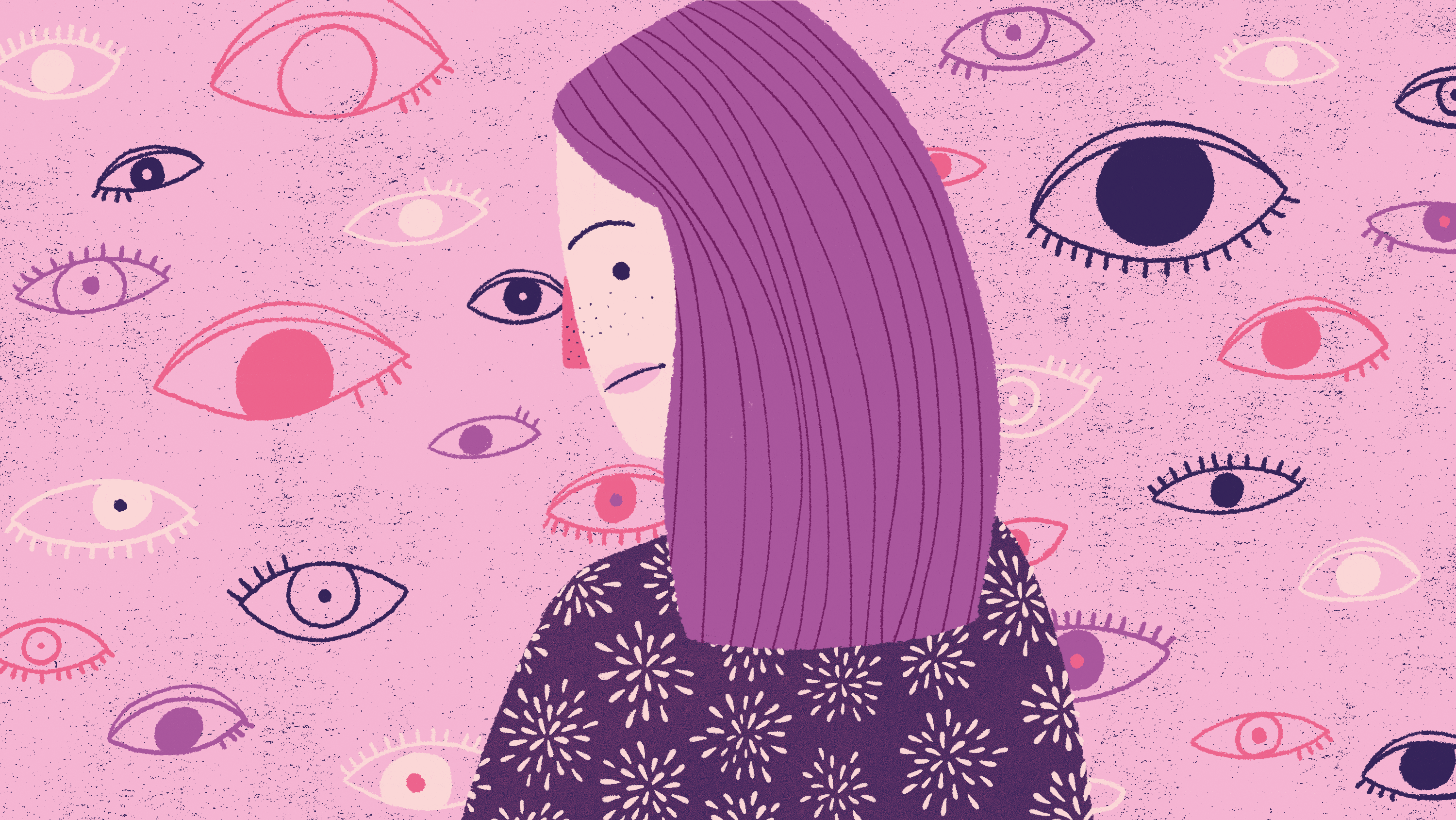
“As pessoas não estão preparadas para isso e não sabem lidar com o assunto”, afirma a psicóloga obstetra Fátima Bortoletti da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Mesmo o óbito fetal sendo comum no Brasil - segundo especialistas, isso ocorre entre 15% e 20% das gestações -, é comum o bebê que ainda está na barriga da mãe não ser visto com um ser humano, o que dificulta para pessoas fora do núcleo familiar entenderem o impacto dessa morte.
Para Bortoletti, a perda de um filho esperado, seja lá qual for o momento da gestação, tem o peso da perda de um parente próximo, com quem a mãe conviveu socialmente, e pode causar um sentimento de inadequação sobre a maternidade. Até porque, se o bebê era desejado, é consenso entre médicos que, psicologicamente, a mulher se torna mãe no momento em que o teste de gravidez dá positivo. “Há muita subjetividade nisso, mas já ouvi de uma cliente que perdeu muito precocemente e que mostrou um sinal de avanço ao admitir que ela era mãe, que ela não tinha uma criança ali, mas ela era mãe”, afirma a psicoterapeuta Ana Maria Lana.

A ultrassonografia
O batimento cardíaco é a primeira forma de comunicação do casal com o bebê. Na sala de exame, eles recebem boas e más notícias. O organismo do feto não é o mesmo da mulher gestante, mas, por estar em seu ventre, ela o sente como parte de si. Perder esse elo antes de nove meses é como perder um fragmento do próprio corpo. “Eu diria que é o maior estresse que alguém pode passar”, diz Bortoletti. “É como se uma parte sua morresse e a outra ficasse viva”, completa.
Por isso, “o mundo cai” quando se ouve, na sala de ultrassonografia, “sinto muito, perdemos seu bebê”.

Raquel Couri, 42 anos
Executiva de recursos humanos (Houston, EUA)
“Estava com 36 semanas de gestação quando não senti Alice mexer na barriga. Naquele momento, dei entrada no inferno e experimentei tudo o que ele tinha a oferecer. Nunca pensei que fosse sentir uma dor igual na minha vida.”

Juliana Rodrigues, 30 anos
Enfermeira (Goiânia, GO)
“Fiquei grávida em 2010. Na 15ª semana, a ultrassonografia registrou pela primeira vez a má-formação. Meu bebê, a Júlia, tinha anencefalia. Ela tinha o cérebro, mas não tinha a calota craniana. Ela não tinha chances de sobreviver. Ainda assim, queria ter apenas 1% de chance de sobrevivência da Julia. Eu iria atrás dessa chance. Mas ninguém me deu. E eu sabia que ela não tinha.”

Rafaella Biasi, 35 anos
Astróloga. Idealizadora do documentário “O Segundo Sol” (Uberlândia, MG)
“Foi uma gestação tranquila. No dia provável do parto, quando eu fui fazer a última ultrassonografia, o médico não encontrou o batimento cardíaco de Miguel. A gente tinha perdido ele entre um intervalo de um exame e outro.”

Larissa Rocha, 33 anos
Psicóloga. Idealizadora do grupo Do Luto à Luta, que oferece apoio a pais que tiveram perda gestacional ou neonatal (São José dos Campos, SP)
“Foi na segunda gestação que eu passei por uma perda no quinto mês e, naquela altura, perder nosso filho já não parecia mais uma possibilidade. Mas descobrimos a mola (doença que acomete a mulher durante a gestação e que se trata de uma malformação celular que não permite o crescimento e desenvolvimento do feto). Logo, além do sofrimento da perda do meu sonhado e desejado filho, estava com a suspeita de uma doença que eu não sabia ao certo o que era.”
“[Mesmo na barriga], o bebê é sentido como um filho. Pessoas acham que há uma diferença entre a dor da perda no primeiro ou no último mês. Mas, para quem está ali nutrindo expectativas para aquele filho, não há”, afirma a psicóloga Liliana Seger, do Hospital das Clínicas de São Paulo e autora do livro “Cadê você, bebê?” (Editora Segmento Farma, 2014). Quando o filho adulto de uma mulher morre, ela perde o passado que teve com ele, as lembranças. No caso de um bebê ainda na gestação, os pais sentem como se tivessem perdido o futuro que eles esperavam viver juntos.

Tássia Lima, 29 anos
Psicóloga (Rio de Janeiro, RJ)
“Descobri a gestação com duas para três semanas. Foi maravilhoso! Quando fui fazer a minha primeira ultrassonografia, recebi a notícia que o bebê não possuía mais batimentos cardíacos e apontava para um aborto retido, sem razão ou explicação para isso. Eu estava com oito semanas. Esperava qualquer coisa menos a notícia que recebi. Minha filha mais velha, de 10 anos, estava me acompanhando, segurou forte minha mão, pediu pra que eu tivesse fé, e me levou pra casa. Eu era a adulta, mas estava desorientada.”

O parto
A mulher ainda está assimilando a morte do bebê, mas precisa decidir como fazer o parto. A barriga, antes um motivo de orgulho e felicidade, muda de forma, se torna um “problema” a ser resolvido. Algumas pacientes querem logo se livrar da situação. Pedem uma cesárea. Outras ficam sem saber o que fazer. Em choque. Assim como a ultrassonografia, os pais emudecem.
Raquel
“Optamos por cesárea. Rapidamente Alice estava em meus braços. Sim, eu quis muito vê-la e não me arrependo. Era a minha filha. Esperei tanto por aquele momento, contei semanas, dias... Foi tão perto... Linda! Simplesmente linda e perfeita. Minha filha. Decidimos cremá-la. Mas, antes, ainda tive a oportunidade de passar algumas horas com ela.”
Juliana
“Eu e meu ex-marido entramos na Justiça para interromper a gravidez, mas, quando eu estava com cinco meses, o juiz decidiu que eu não poderia fazer a cesárea. Quando estava entre 30 e 31 semanas de gravidez, eu tive um sangramento e meu médico decidiu induzir o parto. Júlia nasceu no dia 3 de maio de 2011 com abortamento completo, com a bolsa de líquido amniótico e a placenta. Mas ela estava mexendo dentro da bolsa e aquilo deixou todo mundo apavorado. Peguei a bolsa e eu mesma a abri com a mão. Coloquei a Júlia no colo. Ela tentou chorar, mexeu um pouquinho o pezinho, a mãozinha. Alguém cortou o cordão, deu três minutinhos e ela morreu nos meus braços.”
Rafaella
“A minha primeira vontade foi fazer a cesárea e acabar com isso logo de uma vez. Eu nem queria ver o Miguel, não queria conhecê-lo. Mas os médicos conversaram comigo, disseram que apesar de ele não ter conseguido conhecer o mundo, ele ainda era meu filho. Miguel participou da minha vida por nove meses, ele viu comigo o Brasil perder para a Alemanha. Fiquei muito com isso na cabeça (risos). Foi assim que percebi que tinha de passar por isso, tinha que ter o parto de Miguel. Foi um parto de despedida.”
Os médicos não costumam dar muito tempo para tomar a decisão, mas o ideal seria esperar a mulher sair do estado de choque e viver a depressão reativa, que é saudável, para então pensar em como fazer o parto e a partida daquele bebê. “Assim ela consegue fazer um processo de despedida”, afirma Bortoletti. Se a mulher estiver saudável, isso evitaria casos de cesáreas desnecessárias. “Não comprometendo o futuro obstétrico dela”, completa a especialista.
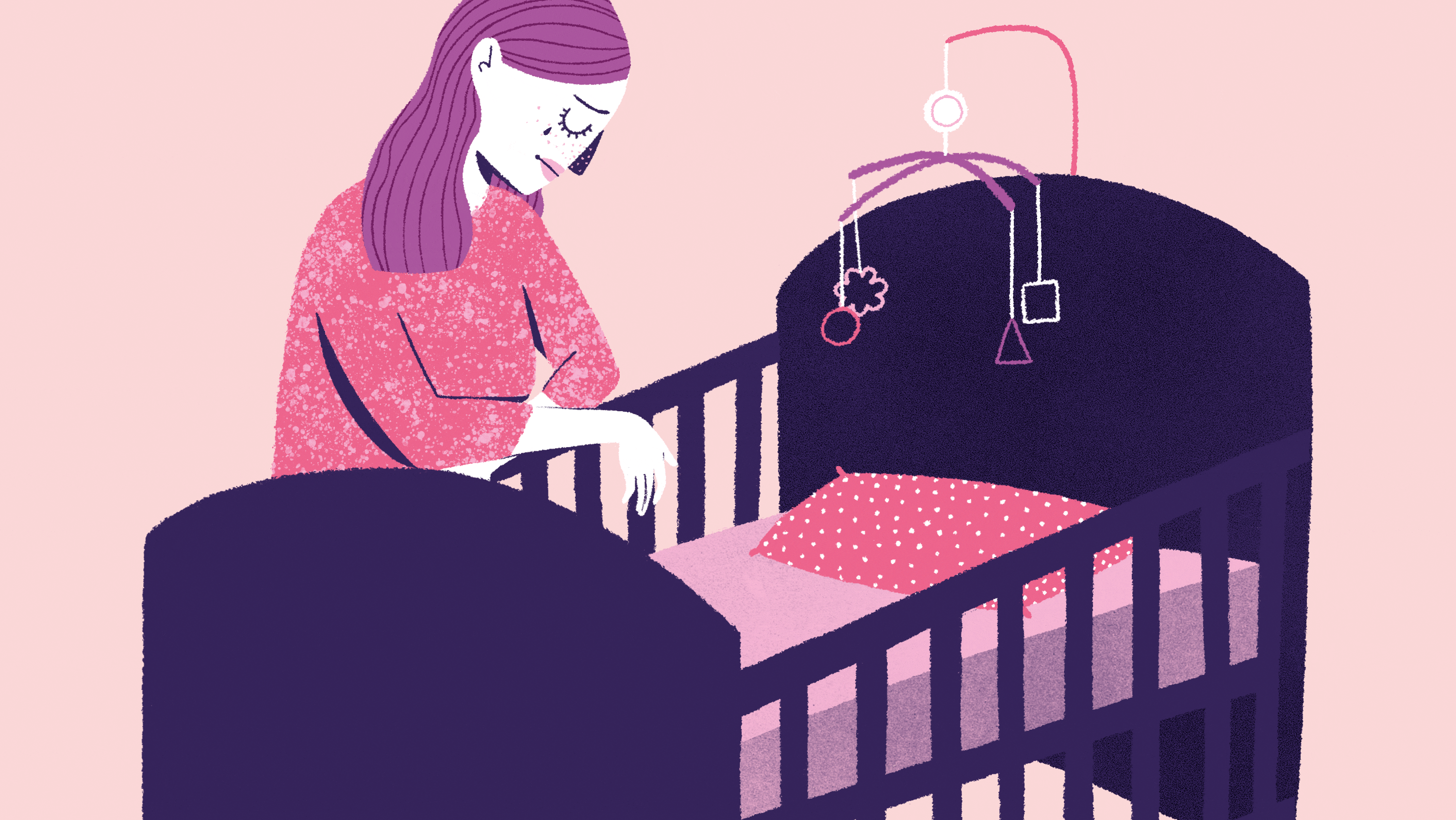
A despedida
Quando um parente ou um grande amigo morre, nós fazemos um velório para nos despedirmos dele. Isso nos ajuda a integrar essa morte à nossa vida. “A concretude da perda é muito importante”, diz a psicoterapeuta Ana Maria Lana. “Ajuda a processar a aceitação dela. Um luto não é para esquecê-la. É para incorporá-la de uma forma boa, tranquila”, completa.
A perda gestacional, no entanto, é tida como invisível porque esses rituais não são feitos. Inclusive, há uma busca pela validação da vida do bebê e do casal como pais no âmbito judiciário: atualmente, o natimorto é registrado sob o nome dos pais, mas eles querem que o nome completo do filho apareça no atestado de óbito. Desde 2013, o Estado de São Paulo é o único que permite atribuir um nome ao natimorto.
Há também a reivindicação por atestado de óbitos para fetos mortos antes das 22 semanas de gestação. Se o Estado não reconhece aquele bebê como um ser humano, como as pessoas poderão tratar o luto dos pais da forma correta?
Tocar o bebê morto também ajuda a materializar a perda. Psicólogos dizem que o contato com o corpo é parte do processo de cura. “É importante que a mãe o pegue, tire foto dele. Fazer velório, fazer uma missa. Tudo isso faz parte do ritual de luto”, diz Fátima Bortoletti. A pessoa precisa criar alguma recordação com aquele bebê. Senti-lo no colo, ainda com a temperatura corporal da mãe, é perceber a existência de um filho que se foi.
Raquel
“Foi o nosso momento, a nossa chance de nos despedirmos. Encostei a pele dela na minha. Precisava senti-la. E sim, cheguei a pensar que um milagre aconteceria e que ela acordaria. Depois de um tempo, uma única enfermeira, claramente desavisada, entrou no quarto e disse:
– Que linda a sua filha! Parabéns!
Com um punhal no peito, saíram as palavras mais difíceis que já pronunciei em qualquer idioma:
– Mas ela está morta.
Nesse momento, sabia que tinha chegado a hora de nos despedir. Foi o adeus mais dolorido da minha vida. Mas ela tinha que ir.”
Juliana
“Tê-la no meu colo foi a mesma sensação que ter qualquer um dos meus filhos. Aquele cheirinho de bebê recém nascido. Ela tinha o queixo furadinho que nem o da minha filha mais velha. Eu queria guardar aquele momento para a vida inteira, mas, ao mesmo tempo, era uma dor que não tinha fim. Na época, eu não tinha informações, hoje eu vejo que queria ter feito uma imagem da mãozinha, da boquinha dela. Queria ter uma foto da minha filha. É a única coisa que eu queria ter. As minhas recordações são as ultrassonografias. Não tenho uma roupinha, não tenho nada.”

A perda no início da gestação costuma ser ainda mais complexa, já que não há um corpo para se despedir. Para ajudar na recuperação da mulher, psicólogos têm vários instrumentos para trabalhar o luto. Um deles é o exercício de visualização. “A gente faz uma conversa entre a mãe e o bebê, para que ela possa se desligar e se despedir dele”, afirma Fátima Bortoletti. O método pode ajudar a prevenir a depressão após o aborto. “A mulher pode não suportar e acabar vivendo essa morte de uma forma dolorosa para o resto da vida”, completa.
Materializar a vida daquele feto em quadros a serem pintados ou balões brancos a serem soltos em um dia de sol no parque também ajudam. Esse último ritual é feito anualmente pelo grupo Do Luto à Luta, no Rio de Janeiro. “Concretiza a despedida, já que ela não pôde ser feita de outra forma”, afirma Ana Maria Lana.
Larissa
“Eu não pedi para ver o que eles extraíram de mim. Até perguntei se eu poderia estar acordada, mas eles me induziram que era melhor eu estar sedada. Depois, eu chorava, falava com meu marido que teria me ajudado a concretizar a perda do meu filho se eu tivesse visto. Passei dias com a mão na barriga, achando que era tudo um pesadelo.”
O contato entre os pais e o corpo do bebê é algo incentivado nos Estados Unidos, por exemplo. Há equipes de fotografia especializadas em registrar o nascimento de um natimorto. “Tudo o que eu queria era ter uma fotinha do meu filho. Sinto o rostinho dele se esvaindo da minha mente”, lamentou uma participante do evento em São Paulo.
No Brasil, no entanto, o despreparo de muitos especialistas faz com que essa situação seja considerada mórbida. “É uma total desinformação”, diz o médico obstetra Renato Domont, do Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e integrante do centro de atendimento a gestantes Núcleo Bem Nascer. “Eles desestimulam isso imaginando que vá causar ainda mais sofrimento na pessoa”, comenta. “O pior é que eles pensam isso não com más intenções, mas com as melhores delas”.

Médico Humano
Após um óbito fetal, é comum os pais envolvidos evitarem o convívio com bebês e grávidas por meses. Ouvir um choro de bebê pode ser angustiante. O aspecto psicológico da perda gestacional, porém, não é levado em conta na maioria das maternidades brasileiras. Pacientes que perderam o bebê são colocadas em ambientes com famílias que estão com seus recém-nascidos. A recomendação psicológica é deixá-las isoladas, mas o protocolo as trata como alguém que teve um bebê. Ponto. Não importa se ele está vivo ou morto.
Larissa
“Tivemos transtornos adicionais que poderiam ter sido evitados, como receber parabéns do maqueiro na volta do centro cirúrgico, por exemplo. Ainda tivemos que lidar com a proibição da entrada do meu marido no centro cirúrgico e com o fato de permanecer ao lado de casais com seus filhos saudáveis, ouvindo chorinho de bebê a noite toda. Todo esse processo, da forma como ele existe hoje, é muito cruel e desumano.”
De acordo com Domont, as equipes são treinadas, atualmente, para lidar estritamente com o “final feliz”, o nascimento de um bebê. A morte não costuma ser levada em conta. Contudo, equipes médicas humanizadas e ONGs têm feito campanha para mudar o modelo. “Ela está em um momento muito único, precisa receber uma atenção completamente diferente da equipe médica”, afirma Domont. “Ela deveria ser identificada de maneira que sua parte emocional seja mais compreendida”, completa.

Em casa
Enquanto uma casa que acabou de receber um bebê fica convulsionada com a chegada da criaturinha, a que acabou de ter uma perda gestacional é silenciosa: Ninguém fala sobre. Todo mundo desvia os olhos. Ninguém quer ouvir os pais que perderam o filho.
“Quando o indivíduo não passou por isso ou não viveu essa experiência, ele tem uma tentativa de julgar esta situação. Acha que, porque a mãe não conviveu com o bebê, não tem por que sofrer”, diz a psicóloga Liliana Seger. O silêncio vem, então, da falta de empatia. E, quando é quebrado, são por frases feitas - “Você é jovem, vai ter outro bebê”. “Ele agora é um anjo lá no céu” -, criando um sentimento de desmerecimento na família.
Tássia
“Depois dessa perda gestacional eu conheci um tipo de luto que, além de não ser reconhecido em nossa sociedade, é desmerecido. Cada ser humano é único. Cada filho tem sua importância independente do tempo que tenha vivido. Não podemos mensurar o amor e a importância que as pessoas têm em nossa vida. Às vezes um abraço é suficiente.”
Rafaella
“Quando a gente passa por uma perda e a gente enluta, as outras pessoas enlutam com a gente. Você conheceu e criou um vínculo com aquela pessoa que está partindo. No caso de uma perda gestacional, ninguém criou um vínculo com o bebê, só a mãe, o pai e a família. Ninguém foi ao sepultamento de Miguel, eu também não fui. Não existe este protocolo social.”
As mulheres que passam por essa situação não se sentem acolhidas nem mesmo em grupos convencionais de apoio ao luto. O casal tem medo de ser julgado, pois estão sofrendo por “apenas” um feto. Uma das mulheres presentes ao evento citado no início da reportagem explicou o "julgamento" com uma frase da escritora norte-americana Sherokee Ilse: “A sociedade mede a dor pelo tamanho do caixão”. De fato, há poucos grupos de apoio à perda gestacional e neonatal. O TAB não encontrou nenhum em São Paulo (SP). Em Campinas, há encontros mensais do SobreViver, enquanto o Rio é a casa do Do Luto à Luta.
A melhor forma de consolar uma pessoa que teve uma perda gestacional é, segundo a psicóloga Liliana Seger, falar pouco e ouvir mais. Deixá-la quebrar este silêncio, deixá-la desabafar o quanto precisar. “Acolher é ouvir, não mudar de assunto. As pessoas ficam sem graça, mudam o foco, mas isso faz a pessoa se sentir desvalorizada, desentendida”, complementa.
No lançamento do livro "Histórias de Amor na Perda Gestacional e Neonatal", elas não desperdiçavam uma oportunidade de compartilhar e, principalmente, de ouvir. Uma delas tinha perdido a filha no sétimo mês de gestação há algumas semanas. Todas a escutaram acenando o rosto afirmativamente. Elas se entendiam.
Larissa
“No geral, me sentia inadequada ao tentar falar do meu filho com amigos e familiares. Nunca me esqueço, porém, de um amigo médico que nos mandou uma caixa de bombons desejando dias melhores e mais doces para mim e meu marido. Foi a primeira pessoa que demonstrou empatia de verdade e o quanto sentia por nós.”

 Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.
Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.