Em uma quadra residencial do bairro Bonfim, na capital gaúcha, um casarão em estilo neoclássico já recebeu professores da rede estadual, idosos de uma clínica de repouso e até análises clínicas de um laboratório ao longo dos últimos 52 anos. A maioria dos frequentadores, no entanto, não tinha ideia do que ocorreu entre aquelas paredes no intervalo de março de 1964 a agosto de 1966. Antes do uso comercial, o imóvel do número 600 da rua Santo Antonio, na região central de Porto Alegre, abrigou o primeiro centro clandestino de tortura usado pela repressão após o golpe militar.
Os abusos e violências praticados por agentes do Estado no casarão conhecido como Dopinha deram início a uma longa década de torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados de opositores do regime em aparatos clandestinos da ditadura. Propriedades privadas, alugadas ou emprestadas por apoiadores das Forças Armadas, e até mesmo dependências de órgãos públicos com desvio de atribuição, localizadas em diversos Estados entre 1964 e 1975 formam um sombrio mapa da morte, com endereços que permanecem nas sombras até hoje. Do Rio Grande do Sul ao Pará, os cárceres clandestinos foram o último endereço de dezenas de desaparecidos políticos.
Alguns meses antes de abrigar uma delegacia da Secretaria Estadual de Educação, o casarão da rua Santo Antonio era uma estrutura paralela aos próprios órgãos de repressão. Só saiu da clandestinidade quando o corpo do sargento do Exército Manuel Raymundo Soares foi encontrado boiando, com as mãos amarradas às costas, nas águas do rio Guaíba. Era 24 de agosto de 1966: foram cinco meses de torturas e abusos. Foi um dos primeiros casos de tortura e morte por parte dos órgãos de repressão sobre o qual se teve notícia na época.




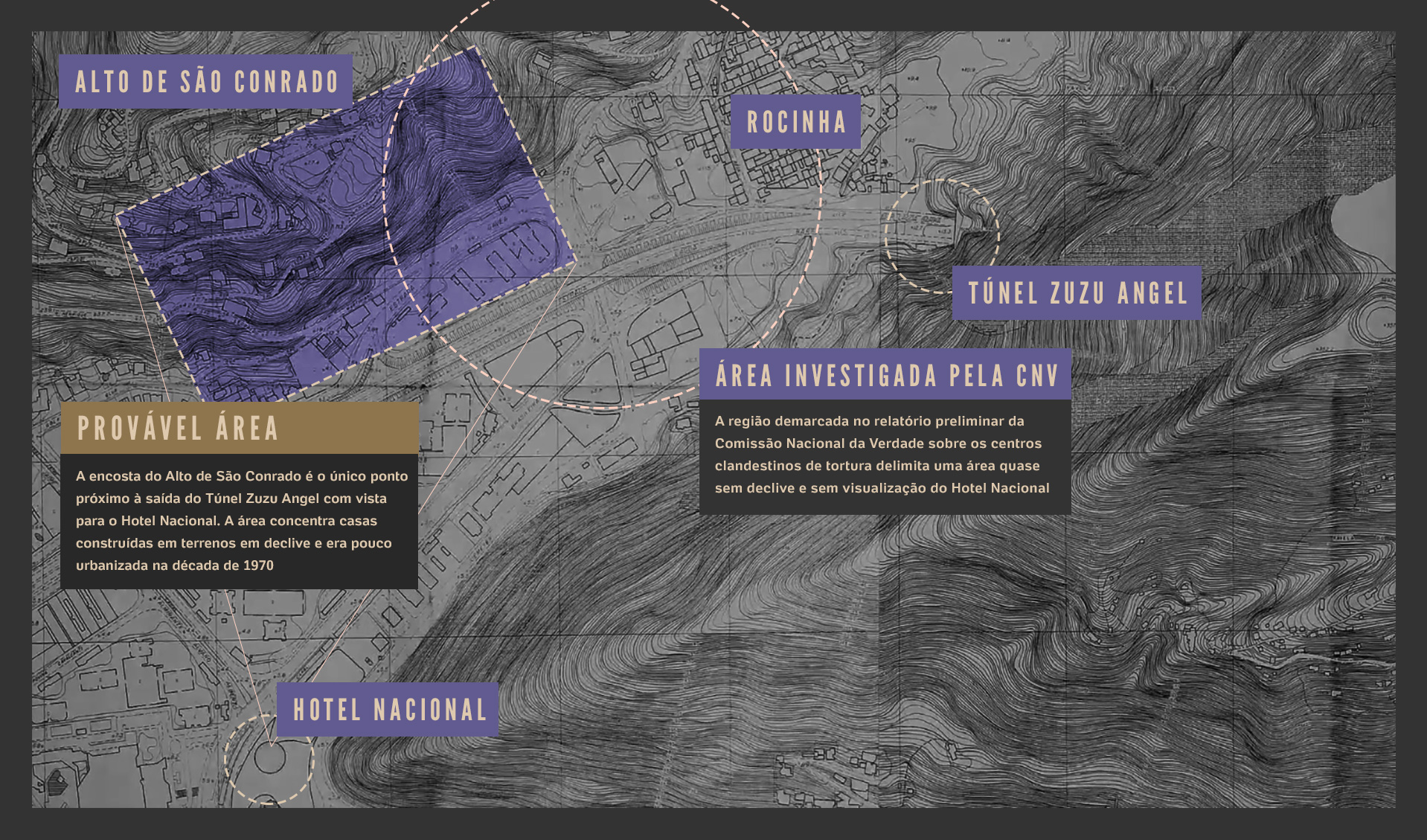



 Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.
Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.