Texto baseado no relato de acontecimentos, mas contextualizado a partir do conhecimento do jornalista sobre o tema; pode incluir interpretações do jornalista sobre os fatos.
Da distopia para o Facebook: quão desejável é o metaverso?

No fim de julho, Mark Zuckerberg declarou que o próximo passo do Facebook era se transformar em uma rede social orientada ao metaverso, isto é, à realidade virtual, às tecnologias imersivas.
Numa escalada do texto para as imagens, vídeos e então formatos imersivos, o Facebook tem seguido o mesmo caminho de muitas outras empresas do Vale do Silício e essa não é exatamente uma novidade se considerarmos que, em 2015, Zuckerberg comprou a Oculus como uma forma de já trazer para casa esse conhecimento. O retorno dessa discussão se deu, no entanto, sob uma outra luz: talvez o metaverso não seja realmente desejável se pensarmos que este foi imaginado em histórias de ficção que têm como pano de fundo um contexto distópico.
O cyberpunk foi o gênero da ficção científica que mais popularizou o conceito da realidade virtual através do ciberespaço proposto por William Gibson nos anos 1980, e depois o metaverso de Neal Stephenson nos anos 1990. Antes disso, outras obras como "Simulacron-3" (1964) também já estavam investigando essa ideia, mas foi a partir da década de 80 que o conceito de um novo espaço imersivo e tecnológico, sem limites para a imaginação, tomou conta do imaginário popular.
Apesar de ter enfraquecido nas décadas seguintes, o tema continua ainda latente pelo fato de a realidade virtual nunca ter despontado, de fato, do ponto de vista tecnológico e de acessibilidade. Quando o Facebook compra a Oculus e a HTC lança o Vive, no entanto, há uma nova percepção no mercado — seja este o dos investidores ou dos fãs.
Em uma análise publicada pela Vice, Brian Merchant, contudo, pondera que a premissa por trás do metaverso e a promessa mercadológica de tornar essa tecnologia uma realidade não é necessariamente algo positivo e desejável. Ao descrever brevemente o enredo de "Snow Crash", obra na qual surgiu o termo metaverso, o autor ignora o fato de que o romance de Stephenson foi tido como uma sátira do cyberpunk e que o próprio escritor, mais tarde, também se tornou futurista chefe da Magic Leap — empresa que Merchant critica ao longo do texto, aliás.
Apesar disso, o cyberpunk nasceu como um gênero que traz em si discussões contemporâneas como a emergência das tecnologias cibernéticas e o avanço do capitalismo para seus próximos estágios. Assim como em outros títulos do gênero, certas questões reais são exageradas para o efeito metafórico, o que não significa que esse tipo de intensificação possa ou não acontecer, de fato.
Volta o alerta, novamente, de que autores de ficção científica não preveem o futuro — algo que Merchant também parece ignorar em sua análise. Afinal, ele traz como referência o fato importante de que muitos dos empresários de tecnologia cresceram lendo essas histórias e tendo como sonho (ou fetiche) a possibilidade de viver ou imergir em um mundo como aqueles imaginados pela ficção.
Não é à toa que o livro "Ready Player One", de Ernest Cline, aborda Oasis como uma rede neural baseada em filmes dos anos 80 e jogos dos anos 2000, mas a esse tipo de saudosismo há uma explicação mais psicanalítica do que tecnológica ou mesmo orientada pela ficção científica enquanto gênero artístico.
Em outra análise semelhante, David Karpf argumenta que a realidade virtual é, entre as tecnologias, aquela que representa uma criança branca rica, filha de pais famosos e abastados (oi, X Æ A-12?). O fato de tantos percalços, falhas e desapontamentos terem vindo ao longo da história da realidade virtual e das tecnologias imersivas faz com que o autor acredite que a persistência e a crença de que o metaverso é o futuro seja algo muito mais orientado por um capricho do que necessariamente algo desejável ou benéfico.
Contudo, o que ambos Mechant e Karpf não consideram são os seguintes dois pontos: a Lei de Amara ("tendemos a superestimar o efeito da tecnologia no curto prazo e subestimar o efeito a longo prazo") e o fato de que, se o metaverso realmente realizar sua profecia, não será ele quem irá trazer uma intensificação de comportamentos violentos e desvios de personalidade, por exemplo.
À primeira vista, parece até que o argumento aqui se assemelha muito àquele que diz que videogames são responsáveis por incentivar crimes e violência. O que ocorre, no entanto, é que o ser humano nunca precisou de computador, de internet ou de realidade virtual para poder se aventurar em seus desvios — a diferença é que, talvez, a internet só tornou isso mais acessível.
Um clipe que resume bastante essa ideia é este aqui (aviso: melhor não assistir no escritório); trata-se de um conteúdo chocante, mas trivial para quem está acostumado a navegar por "chans" e pela deep web. Ou seja, a realidade online é infelizmente muito pior do que a blogueirinha fazendo jejum por sete dias enquanto pessoas passam fome no país.
Mais adiante, Merchant também comenta que tanto em "Snow Crash" quanto em "Ready Player One", a maneira como o metaverso é imaginado possui um truísmo em comum: "Há algo inerentemente distópico em um futuro no qual seres humanos abandonam o mundo real a favor de um mundo digital escapista, orientado pelo consumismo e totalmente imersivo. Para desejar passar muito tempo no metaverso, é preciso fazê-lo mais atraente do que a realidade, algo que pode ser alcançado em uma das duas maneiras: ou o mundo exterior é suficientemente terrível para enviá-lo a uma alternativa passível de bugs e repleta de assassinato, ou então a fantasia de se tornar outra pessoa se torne tão atraente que te consuma por completo."
Ora, se for isso, então a Unity nem precisa mais investir em pesquisa e desenvolvimento de realidades imersivas: bem-vindo ao "metaverso" das redes sociais.
Acredito que a decisão pelo metaverso não seja assim tão dicotômica como sugerem os autores. Mesmo no filme de Spielberg para "Ready Player One", somos convidados a refletir sobre a questão de o protagonista viver em um complexo residencial precário e que tanto ele quanto seu par românico usam avatares que transcendem suas aparências físicas e personalidades "offline".
Acontece que esse não é o ponto central da história e, de fato, ele fica ofuscado pelas luzes do metaverso e das referências nostálgicas. Isso, no entanto, não significa que precisamos de narrativas achatadas e dicotômicas que funcionem como condicionamento para que tenhamos senso crítico e discernimento entre o que é supostamente bom ou ruim.
O que ocorre, por outro lado, é que a narrativa publicitária em torno da chegada do metaverso é, de fato, perigosa pelo fato de essa empreitada ser um projeto bilionário e não mais um esforço subcultural — como também já foi a internet.
Douglas Rushkoff é um autor que tem reforçado essa transição dos anos 90 para cá com relação às tecnologias chamadas exponenciais: nos anos 90 e começo dos anos 2000, havia quase que uma fé utópica de que o ciberespaço ou o metaverso poderiam servir como uma alavanca de transcendência da espécie humana, enquanto que, hoje, Rushkoff já vê isso de forma mais crítica como um problema de luta de classes e do capitalismo tardio.
Assim, a crítica cai de novo naquele mesmo chavão de que esses ricos deveriam estar usando seu dinheiro para acabar com a fome e a desigualdade social, quando, de fato, eles já dedicam uma parte de sua fortuna para projetos sociais (vide Bill Gates, por exemplo), os quais, no entanto, não os tornam menos milionários ou incapazes de conquistar o posto de bilionários eventualmente. Essa foi a mesma discussão levantada quando Jeff Bezos foi ao espaço, quando, na realidade, nos esquecemos que historicamente as tecnologias sempre são mais caras e inacessíveis a princípio e depois tendem a baratear, como discorre o físico Michio Kaku em "Physics of the Future".
Justo ou não, é o que historicamente tem acontecido, porém, isso não significa que não devamos criticar essa lógica e tentar subvertê-la. Ademais, opor-se à mecânica do capitalismo como se deu até agora não significa optar pelo primitivismo. Digo isso porque, muitas vezes, entende-se que o oposto de capitalismo é objetivamente o comunismo ou o socialismo e que esses sistemas implicam um elogio à precariedade, mas estamos vendo novos olhares e convites a outras ponderações que nos façam refletir se, de fato, um futuro tecnológico não possa condizer com um regime econômico e político mais igualitário e não menos próspero.
Por fim, um ponto importante que Karpf levanta é que mais do que serem capazes de criar o metaverso ao pé da letra descrita nas histórias de ficção científica, essas empresas têm que primeiro entender qual é o propósito de se conquistar isso. Mais do que satisfazer um sonho de infância, qual é o propósito e o que isso traz de positivo e útil para as pessoas a curto, médio e longo prazo? É sobre colocar propostas e cenários futuros na balança, ponderar sobre o que é desejável ou não.
Esse é o trabalho que alguns futurólogos têm feito à medida que usam o design fiction como metodologia para vislumbrar cenários inspirados pela ficção científica, mas transpassados por uma lente analítica baseada em áreas como ciências sociais, por exemplo. Isto é, mais do que decidir que o metaverso é algo inevitavelmente negativo ou deliberadamente impossível de se pausar, quais são os acordos e ajustes que podemos fazer de modo a beneficiar mais lados e vivências?





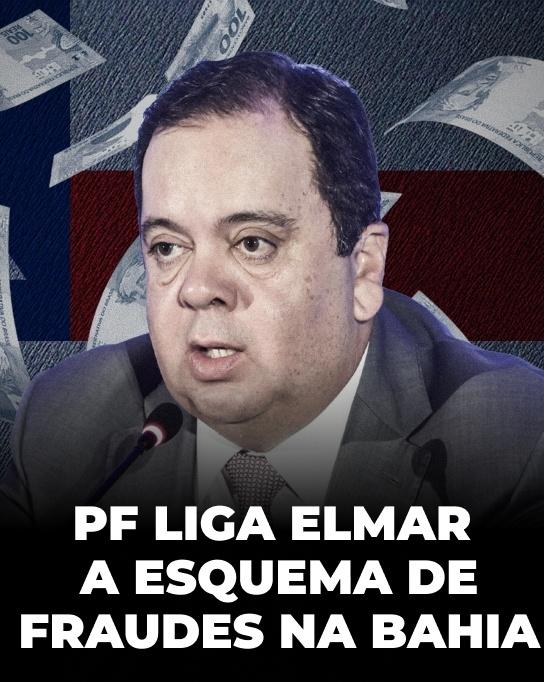







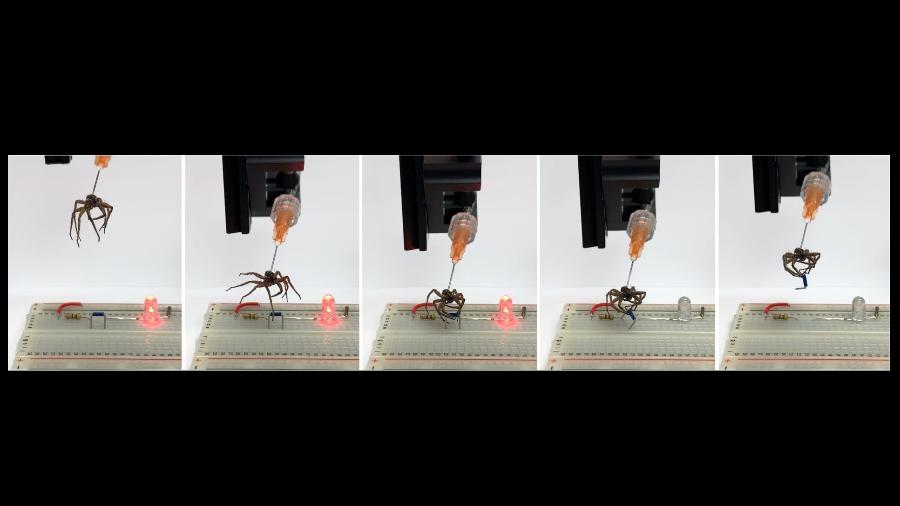

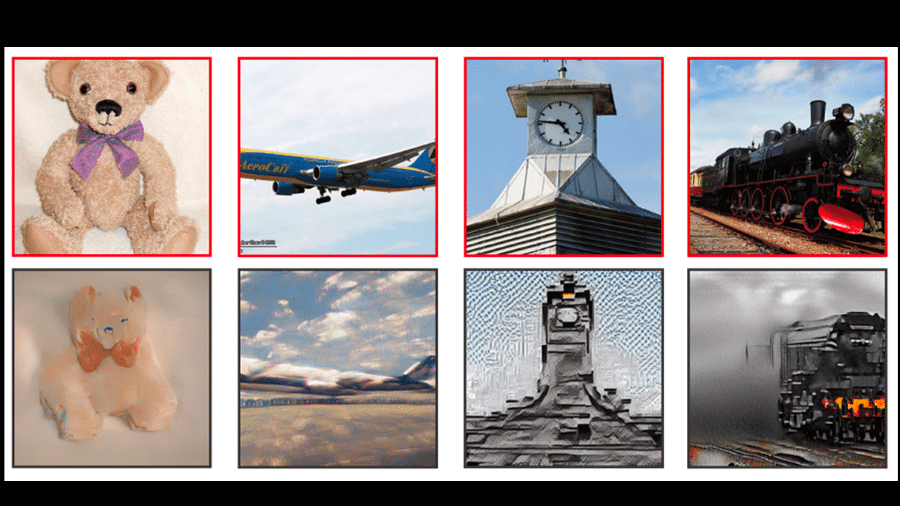


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.