Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.
'Todos vamos morrer um dia' é hino da banalização da vida

Na Grécia Antiga, Sócrates dizia que a vida irrefletida não valia a pena ser vivida.
Na França do século 17, Descartes concluía: "penso, logo existo".
Rousseau, no século 18, demonstrava que "o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado", enquanto na antiga Prússia, Immanuel Kant desconfiava da existência de dois mundos: nossos corpos e o externo.
No Brasil do século 21, o filósofo mandou bom dia no WhatsApp, vestiu a sunga e concluiu que nada importa. Vamos todos, afinal, morrer um dia.
Nos registros destes tempos na posteridade, ninguém precisará ir aos livros para entender como a filosofia dos tempos atuais moldou nossa forma de pensar e se entender diante do mundo. Bastará procurar no Google uma reportagem assinada por Maurício Businari para compreender como a máxima "vamos todos morrer um dia" ajudou a empurrar mais de 220 mil brasileiros para a morte — e, de quebra, enterrou toda a sabedoria produzida desde a chamada revolução cognitiva, quando os Homo sapiens encontraram na linguagem a expansão do universo que levou os outros hominídeos, como os irreflexivos neandertais, à extinção.
A máxima foi ouvida aos montes pelo repórter durante um passeio pela praia lotada de Santos, em um dos momentos mais tensos da pandemia de covid-19. Se já está morrendo pouca gente por causa das aglomerações, por que não aproveitar o calor do fim de semana para aglomerar ainda mais?
A resposta é mais do que uma ode ao fatalismo. É a base da nossa filosofia de vida — desconfia-se que não só no Brasil, mas por aqui é amalgamada no coração e na mente de seu presidente — que está para a produção do conhecimento como as patas do boi nelore estão para o pasto.
Neste provável retrato para a posteridade, o trabalho jornalístico pode servir como farol para, daqui alguns séculos, arqueólogos desvendarem o mistério da extinção da inteligência humana. Nas areias de Santos nem todos tinham o distintivo de desembargador para humilhar o guarda e fazê-lo engolir a multa por circular sem máscara, mas muitos estavam convictos do alinhamento automático com as ordens do rei.
Distanciamento?
"Que raio de lei é essa? Eu posso me matar no trabalho, mas aqui não posso? Quer saber? Vamos todos morrer mesmo, então eu vou é aproveitar", disse um banhista à reportagem do UOL.
"Não somos escravos. Somos um povo livre. Como diz o presidente, vamos todos morrer um dia, mas não precisamos viver presos como esses governantes querem. Existem tantas outras doenças aí! H1N1, dengue... Por que cismaram com essa covid?", filosofou outra banhista, citando um vírus influenza que, de 2009 a 2010, matou 2.098 pessoas no Brasil — uma fração perto do morticínio da doença que as autoridades teimaram em negar nesses últimos dez meses.
Houve quem comparasse, na reportagem, o vírus ao pecado. "Dizem aí que o vírus é invisível, que a gente não vê. Só que pecado também é invisível, a gente não vê. Mas Deus é quem vê e sabe de tudo. Isso é tudo mentira dos governadores para nos manterem presos. Deus sabe disso."
Pela lógica, é como se uma velha máxima fosse atualizada para o calor das praias e a fritura dos tempos atuais: se Deus existe, tudo é permitido.
As declarações colhidas pelo repórter são mais do que desculpas para ir à praia. São o crime confesso de inapetência existencial.
O discurso reverberado pelo presidente de que todos vamos morrer um dia, e este é o caminho natural diante das coisas e contra ele não podemos fazer nada, é a declaração de morte de todas as coisas. A começar pelo trabalho dos profissionais de saúde, que enquanto você lê este texto, fazem o que podem e o que não podem em algum hospital superlotado para evitar que mais uma família seja destroçada pela perda de alguém.
Levada a cabo, a máxima deixa entrever que entre nascer e morrer nada importa; nem o que se faz, nem para quem se faz, nem o que sentimos ou o quanto sofremos ou aprendemos. A vida, afinal, é só um intervalo no qual nascemos, piscamos os olhos, nos alimentamos e esperamos morrer. O resto é terra, cimento e areia.
No presidente, essas pessoas encontraram um balaio para depositar toda a incapacidade de autorreflexão, de entendimento do mundo e da dimensão do outro — basicamente, o que nos distingue dos outros animais. É o que nos impede de diferenciar o direito a fazer o que se quer da própria vida (este sim, um dilema filosófico profundo) com o direito de fazer o que quiser com a vida de alguém. Inclusive matar. Tem quem chame isso de liberdade.
De duas, uma. Na hora em que a Libitina aparece, não tem adepto do "todos vamos morrer um dia" que não se agarre até a última conta do terço e do pescoço da bisavó. A conversa, então, muda de sentido. No fundo, era só exercício de virilidade e disfarce da insegurança.
Na pior das hipóteses, porém, já nos tornamos aquelas pessoas na sala de jantar da música dos Mutantes, ocupadas demais em nascer e morrer sem que nada entre uma ponta e outra fizesse sentido para nós ou para alguém.
Se os arqueólogos do futuro quiserem entender como chegamos à completa banalização da existência na Terra, terão na máxima "vamos todos morrer um dia" a pedra filosofal do pensamento contemporâneo por onde tropeçamos todos os dias e caímos no alçapão. Ele não nos legou só a catástrofe. Legou o vazio. É lá que enterramos nossos mortos.





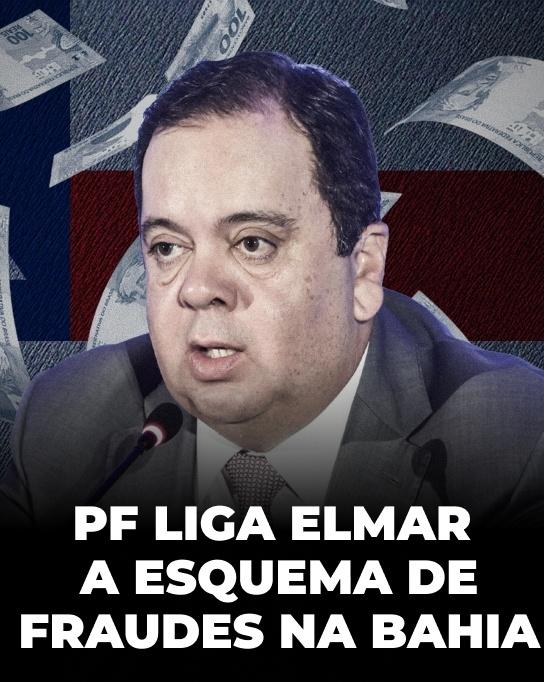













ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.