Manifesto indígena dos EUA quer pôr fim ao capitalismo e ao colonialismo

Uma das reflexões feitas ao longo dessa pandemia foi que, talvez, o vírus não tivesse se espalhado tanto se o mundo não fosse tão conectado e, por sua vez, tão globalizado. É uma hipótese razoável, mas o que gostaria de abordar aqui faz o sentido inverso. Recentemente tomei conhecimento do manifesto antifuturista indígena publicado no site Indigenous Action, organizado por indígenas do Arizona (EUA). O texto foi também traduzido para o português pelo site A Fita. Ele traz à tona sentimentos apocalípticos que têm assombrado nossa mente ao longo desses seis meses de pandemia e nesses últimos anos de incerteza política e econômica.
O manifesto abre com uma adaptação da célebre frase "é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo", trocando capitalismo por colonialismo. É verdade que novas vertentes nas ciências sociais têm pensado as políticas de representação, o decolonialismo e todos os desdobramentos do que é nascer e viver em países que foram colonizados nos séculos passados.
Essas vozes indígenas se recusam a pensar o futuro e o passado a partir da perspectiva do colonizador e do capitalista. Trata-se de um texto radical e firme ao indicar que não se conectam nem com a direita e nem com a esquerda, já que ambas seguem uma mesma lógica apocalíptica, escatológica, que não condiz com os conhecimentos e crenças ancestrais compartilhadas pelos nativos.
Em um dos workshops de que participei, apresentado pela futurista Rosa Alegria, ouvi o alerta de que precisamos "decolonizar nosso futuro". Não sei até que ponto essa frase dizia respeito a questionar nosso imaginário sobre o que pensamos ser um ideal de futuro ou se, de fato, diz respeito a questionar como são enviesadas nossas visões de futuro. De qualquer modo, ambas são válidas e importantes: talvez um futuro com carros voadores e robôs limpadores de chão não seja necessariamente o mais importante e urgente para nosso país. Talvez algum outro tipo de tecnologia ou uma mudança de cultura e de raciocínio sejam mais urgentes do que bugigangas inteligentes.
Isso torna esse texto e o manifesto ainda mais relevantes. Assistimos à destruição do Pantanal e à declaração do presidente que ousa acusar os próprios nativos de terem iniciado o fogo. Em uma passagem do manifesto, os autores descrevem a forma com que os colonizadores se apropriaram da alegoria do zumbi (africana e caribenha), construindo uma narrativa de alteridade e de subhumanidade para aqueles que são designados como inimigos em prol de uma agenda predatória:
"Esse é o Outro que é sacrificado por uma continuidade imortal e cancerosa. É o Outro que é envenenado, bombardeado, deixado silenciosamente sob os escombros. Essa maneira de não-ser, que infectou todos os aspectos das nossas vidas, que é responsável pela aniquilação de espécies inteiras, a intoxicação dos oceanos, do ar e da terra, da devastação e da queima de florestas inteiras, do encarceramento em massa, da possibilidade tecnológica de existência de armas de guerra que podem acabar com o mundo, e do aquecimento das temperaturas em uma escala global, essa é a política mortal do capitalismo, ela é pandêmica." (Tradução de A Fita)
Agora, é curioso (senão terrível) pensar que, no século 21, a alteridade se dá dentro do próprio país e não mais na vinda e ação estrangeira. Criamos embates e alteridades entre nós mesmos, o que mostra o quanto fomos contaminados por essa narrativa apocalíptica a que o manifesto se refere. Acabamos comprando esse futuro e seu modus operandi como o único possível. Pagamos o preço da autoaniquilação por estarmos convencidos de que essa é a forma correta de viver ou, como descrito no manifesto:
"Dia após dia após a guerra, após o genocídio, negociando a humilhação pós-colonial do nosso lento suicídio em massa no altar do capitalismo; trabalho, renda, pagar o aluguel, beber, trepar, procriar, aposentar, morrer. Está na beira da estrada, à venda em mercadinhos indígenas, servindo bebidas no cassino, estocando tendas, são os simpáticos índios ali atrás, você. Esses são os presentes dos infestados destinos manifestos, que são os imaginários futurizados que nossos captores nos fizeram perpetuar e participar. A impiedosa imposição do seu mundo morto foi impulsionada por uma utopia idealizada como ossuário, era 'para o nosso próprio bem', um ato de 'civilização' Matar o 'índio'; matando o nosso passado e com ele nosso futuro. 'Salvar o homem'; impondo outro passado e com ele outro futuro." (Tradução de A Fita)
E quando vemos que nem mesmo os testes de ancestralidade conseguem incluir possíveis raízes de nativos por haver um projeto de apagamento sistemático desses povos, entendemos que, de fato, há algo muito mais profundo e perene no que diz respeito aos processos predatórios e à lógica colonizadora. Podemos não ter mais naus chegando às praias brasileiras ou missionários europeus querendo converter nossos indígenas, mas temos missionários brasileiros invadindo reservas indígenas e um Presidente da República oferecendo a Amazônia como produto a um norte-americano de forma desavisada — o homem em questão é defensor da preservação natural.
O manifesto se encerra concluindo que o "colonialismo é uma praga, o capitalismo é uma pandemia. Esses sistemas são antivida, eles não serão forçados a curar a si mesmos", o que significa que é fútil esperar que o capitalismo se reinvente, que se torne mais "consciente", porque a própria lógica dele seria destrutiva e predatória. A partir de uma perspectiva de resgate da cultura ancestral indígena, os autores se propõem a funcionar como anticorpos e não permitir que o organismo do capitalismo e do colonialismo se autorregenerem mais uma vez.














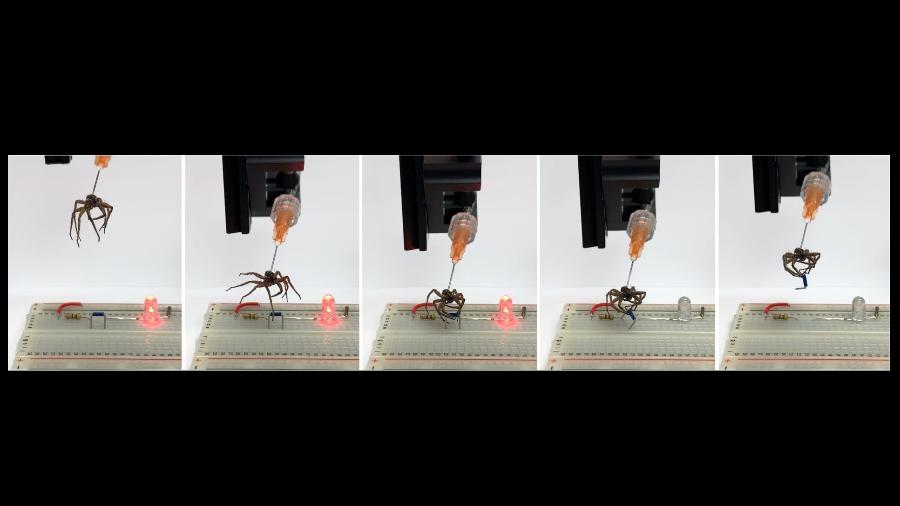

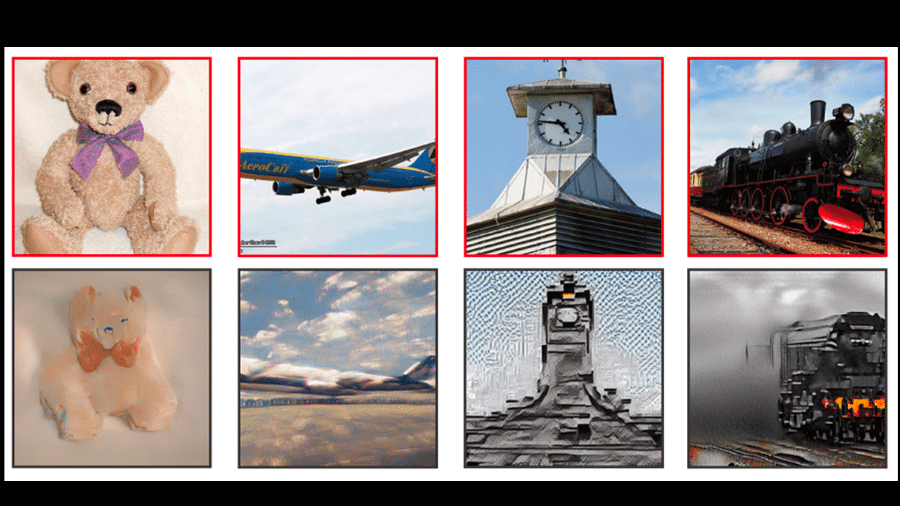


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.