Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
Oscar 2021: personagens confinados são retrato de um mundo em quarentena

Um pouco para fugir do mundo, um pouco para não esquecer que ainda existe cinema nesta vida, dei início, há algumas semanas, a uma maratona para conseguir assistir online ao menos uma fração dos filmes indicados ao Oscar 2021. Já no primeiro ponto a estratégia fracassou.
No quarto onde agora me tranco das notícias do dia antes de dormir, o mundo em que estou, pandêmico e confinado, se revela como embrulho em linguagem cinematográfica. Em comum, as produções que pude conferir falam justamente da desintegração de territórios que convencionamos chamar de lar.
Esta será a primeira cerimônia do Oscar desde que a Organização Mundial da Saúde anunciou a pandemia do coronavírus, em março de 2020.
Da Netflix, já tinha assistido "Mank" e "Os 7 de Chicago". Nada parecia conectar um filme e outro até me dar conta de que, nas duas histórias, os corpos dos personagens estão aprisionados em cativeiros particulares. Cada um deles precisa reconstituir suas reminiscências a respeito de um mundo observado à distância e que emite sinais de desintegração.
Herman J. Mankiewicz, o roteirista que inspira o longa de David Fincher, está acamado, recuperando-se de um acidente, enquanto se embrenha nas memórias para escrever a base do filme que mudaria o curso do cinema: "Cidadão Kane". Seu contato com o mundo é o telefone, por onde Orson Welles, o diretor do longa dentro do longa, se apresenta como mediador e oponente de uma luta contra o tempo, as novas condições e seus limites.
Longe dali, em um tribunal de Chicago, os sete (na verdade, oito) militantes que deixaram suas casas para participar de um protesto em 1968 veem o mundo entre grades e janelas de tribunais enquanto o mundo se acaba no Vietnã.
As correntes daquela década parecem represadas em uma sala de audiência que reuniu, numa quarentena forçada, advogados, intelectuais, hippies, panteras negras e um futuro deputado.
Em comum, nem os réus nem os espectadores podem se mover enquanto veem a história ser julgada e reelaborada em um longo e viciado processo jurídico e também político.
De longe, os fatos são sempre recortes e suas reelaborações, confusas, como são confusos os fragmentos e repetições das mesmas cenas, com personagens diferentes vistos e revistos em ângulos diversos na cabeça de Anthony, o personagem homônimo de Anthony Hopkins que vive acelerado estado de demência em "Meu Pai".
Ali, entramos e saímos em círculo dos labirintos de uma casa em Londres, onde a obsessão pelo relógio perdido é a obsessão pelo controle da dimensão do tempo que escapa. A ideia de espaço é solapada quando a memória está por um fio e já não temos domínio do próprio território — como figurinhas que transitam no mesmo álbum, os referenciais simbólicos (mãe, filhas, genro) se deslocam e trocam de lugares o tempo todo com médicos e enfermeiros, a ponto de encurtar as fronteiras do delírio, do sonho, do medo, das lembranças e da realidade.
O deslocamento do sujeito de seu ponto de origem (o lar?) resulta em sua própria implosão. Longe dali o filho volta a ser o pai do homem, diria Machado de Assis.
Não é outro o deslocamento em "O Som do Silêncio", uma joia rara encravada numa despretensiosa sinopse sobre um baterista que de um dia para outro perde a audição — e, com ela, a ferramenta de trabalho e comunicação de um universo encerrado na companheira com quem divide a sua casca de noz, frágil e prestes a ser silenciada, em forma de motorhome.
Como num encontro marcado com o tempo presente, o drama de Ruben praticamente anuncia como viveriam os espectadores se o mundo que conheceram e onde desenharam suas trajetórias — um ensaio incerto e sem amarras da vida com os pés na estrada — desaparecesse de um dia para o outro e nos obrigasse a viver em estado de confinamento, com os sentidos afetados por uma enfermidade misteriosa. Como seria esse Planeta quando deixássemos de nos movimentar por ele? Que sons emitiria? O que traria para perto e o que condenaria a viver a distância?
Ruben, que deixou de usar drogas há quatro anos, sente o risco de uma pedra levada até a ponta da montanha desmoronar em meio à revolta e aflição da perda iminente. Decodificar aquele novo mundo, um novo normal no qual ele demora a se reconhecer, exige aquietar o espírito. É o que estamos buscando há mais de um ano. Um ano marcado pela perda.
Em uma das cenas, o diretor de um centro de acolhimento pede que ele se tranque no quarto com uma cama, uma mesa, caneta e papéis. Num mundo modelado pelo movimento e a hiperatividade, o exercício chega a ser torturante, como é dilacerante para quem recebe o diagnóstico de uma doença que pode ser fatal e precisa se isolar sem reconhecer o cheiro ou o gosto das coisas. Lá, como cá, a crise é, antes de tudo, sensorial, e não parece ser acaso a participação de Mathieu Amalric — que interpreta um editor paralisado que escreveu um livro apenas piscando um olho em "O Escafandro e a Borboleta" — naquela história.
"O som do silêncio" é um dos mais belos filmes de amor do cinema recente. Fala das conexões e das sintonias transitórias de um mundo mediado por ruídos, como os replicados em uma apresentação do casal de artistas que demora a perceber que já não se comunica. Tem algo ali que ecoa Gabriel García Márquez e os amores contrariados dos tempos do cólera: afinal, quanto podemos esperar até que tudo volte a se comunicar como antes? O que sobra quando se percebe que, no reencontro, nada nem ninguém será o mesmo amanhã?
Em outro universo, o infantil, a espera pela reconstituição imaginária do mundo como era antes marca também os indicados a melhor animação. É o que une o professor de música lançado para outra dimensão ao cair do bueiro em seu grande dia em "Soul", os jovens que tentam pela magia reconstruir e reinterpretar a vida e a presença física do pai em "Dois Irmãos", a jovem chinesa que rompe a estratosfera em busca da mãe em "A Caminho da Lua" ou a menina que se descobre loba quando é apresentada aos encarceramentos femininos de um castelo aprisionador de subjetividades em "Wolfwalfer". Coisa de gente grande.
Melhor ficar por aqui, enquanto aguardo a estreia do favorito Nomadland, outro filme sobre a era pós-apocalipse, longe dos pilares da sociedade industrial dominante e em plena decadência. Aquela sociedade que não imaginávamos estar com os dias contados antes de nos trancar em casa sem hora para sair. O que nos confina é o que nos amarra. Que a próxima safra de filmes traga também um vento de liberdade e reencontro.






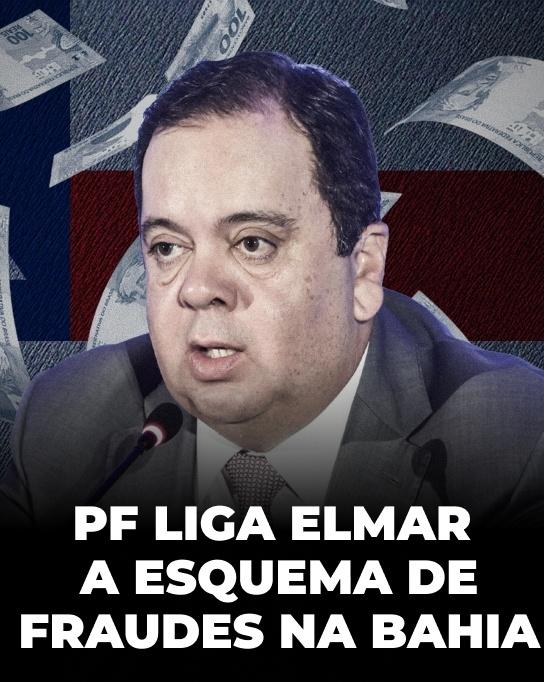











ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.