Corpo coberto em padaria no Rio revela que estamos mortos de anestesia

Dizem que a gente vira gente quando nasce e ganha um nome.
Esqueceram de contar quando é que a gente deixa de ser gente.
No Rio, um morador de rua morreu na Padaria e Confeitaria Ipanema, perto da praça Nossa Senhora da Paz. Teve o corpo coberto por um saco plástico e foi cercado por cadeiras por mais ou menos duas horas até ser recolhido. A padaria seguiu aberta normalmente. Em sua coluna no jornal O Globo, Joaquim Ferreira dos Santos contou que um freguês chegou a pedir ao responsável pelo estabelecimento que as portas fossem fechadas por uma questão sanitária e humanitária. A resposta foi negativa: ninguém teve humanidade quando aquele homem estava jogado na rua e agora que morreu jogado em sua padaria queriam que ele tivesse? Enfim, a hipocrisia.
Carlos Eduardo Pires de Magalhães tinha 40 anos e sangue no rosto quando entrou na padaria para pedir ajuda. Pelos relatos, sofria de tuberculose e morreu por volta das 8h, mesmo horário em que costumava tomar o seu pingado com pão na chapa. Antes de ser atendido, caiu, foi coberto e fotografado. Até então, era um homem sem nome. Seguiu invisível sem atrapalhar o trânsito entre as mesas nem mudar a rota dos maxilares de quem mastigava bovinamente enquanto conferia as notificações do celular. Estava à vista de todo mundo que seguiu a vida em profunda anestesia, um recurso usado pelos que aprendem logo cedo a lei das grandes cidades: sentir nos consumiria, e os mendigos estão aí pra nos lembrar o que acontece quando vacilamos, entregamos os pontos, explodimos longe da postura correta, e ereta, dos que se movem para não viver na rua.
Além da pele negra, a indiferença com que se morre nessas cidades é o que une Carlos Eduardo a João Alberto Freitas, espancado diante de 15 mortos-vivos em Porto Alegre, em novembro. Não importa se é morte morrida ou morte matada: eles estão sempre cercados por câmeras, seguranças e olhares desviantes de quem não sabe quando começou a morrer.
Em 2020, ano em que passamos os dias cobrindo e contando mortos numa pandemia, completei minha maioridade em não ser gente. De mudança para São Paulo, há 18 anos trazia no colo um discman e um livro que deveriam servir como bússola caso um dia perdesse as referências. Nos trechos finais, o Miguilim ganhava óculos e ia também morar na cidade grande.
Estava tão aflito com a mudança que reler aqueles trechos, ainda no ônibus, me fez tirar os óculos para miopia e enxugar algumas lágrimas. Alguém ao meu lado perguntou se eu estava bem e só paramos de conversar quando o ônibus estacionou na rodoviária do Tietê. "Se você sobreviver aqui você sobrevive em qualquer lugar", disse o passageiro-amigo antes de se despedir.
Naquelas viagens que se tornaram frequentes entre o interior e São Paulo creio ter feito algumas amizades com meus vizinhos de poltrona. Deles não guardei nomes nem contato para mandar um sinal no WhatsApp algum tempo depois. Quando inventaram essa ferramenta eu já não queria conversa. Não queria ser amolado. Me irritava com os sons que escapavam de algum fone, com as querelas resolvidas em viva voz ao celular, com os toques de aparelhos eletrônicos e até mesmo com algum choro de criança.
Entrei mole naquela cidade e saí duro. Mal colocava os cintos de segurança e começava a dormir. Ou adiantar os trabalhos do dia seguinte. Sem tempo pra conversa, irmão.
Tem sido assim, acho, desde que me desviei de uma mulher no metrô que passava mal, pediu ajuda e começou a vomitar. Olhei o relógio e corri para evitar um novo atraso. O que fiz de tão importante naquele dia, numa redação de site esportivo? Não lembro. Nunca vou lembrar. Mas não esqueço daquela mulher de quem desviei o olhar e agora não consigo desver.
Foi a primeira, mas não seria a última vez que fingia demência quando me pediam atenção, dinheiro, informação ou ajuda — era um golpe, decerto, desses que a gente só cai nas primeiras semanas como urbanoides.
Depois ganhamos cascas. Ficamos espertos.
Nem sempre foi assim. Naquele primeiro ano, a cidade ainda me impactava e de seus habitantes eu sabia alguns nomes, inclusive do velho que dormia à entrada do metrô Brigadeiro. O nome dele eu esqueci, mas sei que era avô de um recém-nascido com o mesmo nome que o meu. O garoto hoje tem 18 anos.
Certa vez, minha mãe me telefonou para avisar que meu avô, internado, já havia sido desenganado pelos médicos. Disse para me preparar e pegar o próximo ônibus. E pediu para que eu rezasse a uma santa, cujo nome esqueci. Pela tradição, eu ganharia uma rosa e teria a prece atendida. Rezei. Antes, fiz um rapa na geladeira e levei alguns pães e fatias de presunto e queijo que estragariam no tempo em que ficaria fora da cidade.
Antes de embarcar, levei tudo para os mendigos que dormiam em frente à Imaculada Conceição. Um homem vendia flores na frente da igreja, viu a cena, me deu uma rosa como agradecimento. Meu avô saiu andando do hospital poucos dias depois.
Eram outros tempos, e naquele tempo ainda havia resquícios de fé e alguma humanidade que não me faziam envergonhar por chorar em público com um livro que não sei mais onde está. Mas me tornei um bom profissional, parece.
No trabalho, somos treinados e orientados a engolir o choro.
Ser profissional é ter distanciamento das coisas. Ou pessoas. Tanto faz.
Dizem que o que os olhos não veem o coração não sente. E, para não sentir, o melhor é desviar. Ou desver.
Hoje sei cobrir e contar os mortos dos boletins diários sobre o avanço da Covid-19. Já não pergunto quem morreu, mas quantos.
Com os anos, aprendi a sair das padarias e desviar dos olhares que me lançavam pedidos já na saída. Não tinha tempo para conversa nem lamentos. E nunca mais me atrasei.
Já não moro nessa cidade nem desvio ou esbarro com os deserdados filhos da terra. Não corro risco de ser flagrado em alguma padaria de grande cidade conferindo e-mail ou notícias sobre os mortos na pandemia enquanto um homem é coberto sem choro ou vela a poucos metros. Vim para o interior morar num condomínio que agora me protege de todos eles.
No dia em que vi a foto do homem coberto no Rio, escutei uma explosão na rodovia separada por um muro entre minha casa e minha nova cidade. Senti o cheiro de gasolina queimada e fiquei onde estava. Era o dia seguinte da eleição e não queria atrasar o envio da minha análise definitiva sobre o cenário político — da qual, creio também, ninguém mais se lembra.
Era um caminhão de combustível que bateu e explodiu a poucos metros do meu quarto. Fragmentos daquele veículo penetravam, pelo odor de pneu e óleo queimados, a casa onde eu deveria permanecer isolado do resto do mundo. Graças ao muro, os destroços seguiam longe da minha vista. Soube dos detalhes procurando informações, minutos depois, pelo Google.
O mundo explode longe, muito longe.
Mas estamos a salvo. Estamos todos mortos de tanta anestesia.






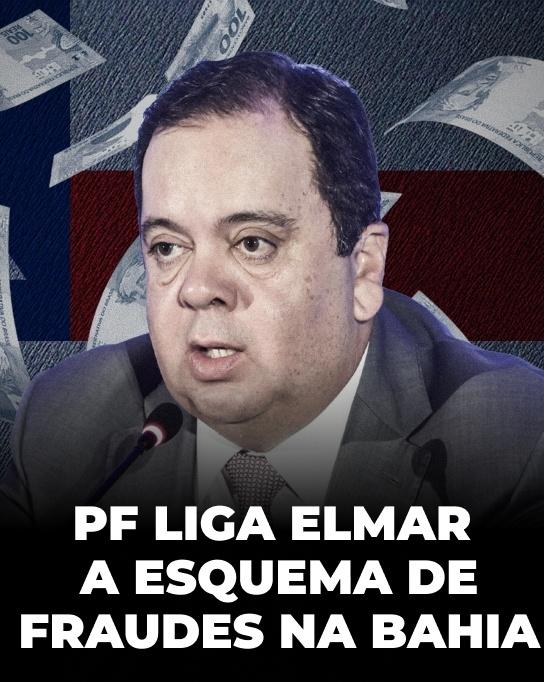












ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.