Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
'Aqui não é Iraque': indignação seletiva só reforça drama ucraniano

"Hotel Ruanda" é um filme de 2004, dirigido por Terry George, que reconstitui a rotina em um hotel de Kigali. Ali, mais de 1.200 refugiados, além de voluntários da ONU e equipes de TV, se abrigavam enquanto os conflitos entre hutus e tutsis dizimavam quase um milhão de pessoas nos arredores, em meados de 1994.
Em uma das cenas, o cinegrafista interpretado por Joaquin Phoenix consegue flagrar o momento em que homens armados com facões e pedaços de madeira matam mulheres e crianças em um bairro vizinho.
Paul Rusesabagina, o gerente vivido por Don Cheadle, fica assombrado com o que vê, mas, diante da hesitação do jornalista, encoraja a divulgação da cena. "Fico contente que tenha gravado aquelas imagens. E que o mundo veja aquilo tudo. Só assim vai haver alguma possibilidade de alguém intervir." Afinal, ele discorre, "como podem não intervir vendo tamanha atrocidade?"
O cinegrafista, sem a mesma esperança, responde, derrotado: "Acho que as pessoas que virem essa gravação vão dizer 'meu Deus, que horror', e vão continuar jantando."
Massacres como os de Ruanda se replicaram pelo mundo nas décadas seguintes. Iraque, Afeganistão, Síria, Sudão. Não faltou território invadido e destroçado, junto com sua soberania e autodeterminação, de lá para cá. A distância amortece os corações e ajuda na digestão de quem só quer terminar o jantar em paz enquanto a TV insiste em noticiar um mundo em combustão — isso quando de fato noticia.
Na cobertura da guerra da Ucrânia, à justa solidariedade a uma população atacada covardemente pelas tropas russas tem sido sobreposta uma série de discursos que tenta incentivar os espectadores a largarem os garfos e as facas e notarem, ao menos dessa vez, a gravidade da situação.
Quem está perdendo tudo, deixando suas casas e pedindo refúgio, eles alertam, já não são os bárbaros, mas pessoas "como nós". "Isso não está acontecendo em um país de terceiro mundo. Isso é a Europa", diz uma correspondente num vídeo que viralizou. "Isso não é África ou Oriente Médio. Europeus estão sendo mortos", afirma, mais explicitamente, um analista.
"Esse não é um lugar, com o devido respeito, como o Iraque ou o Afeganistão. É um lugar relativamente civilizado, relativamente europeu. É uma cidade onde não esperávamos que isso acontecesse", segue, mais explicitamente ainda, outro comentarista na TV, como se tivesse interrompido as férias nos Alpes para lembrar que ainda é capaz de sentir algo por alguém.
É como se esses analistas europeus e norte-americanos dissessem: em um mundo em conflito, toda morte é lamentável, mas umas são mais lamentáveis do que outras. As brancas, no caso.
Esse discurso foi analisado pelo jurista Thiago Amparo em sua coluna mais recente na Folha de S.Paulo. Para ele, é preciso enfatizar que nossa dor é seletiva. Não para apagar a realidade da dor da população ucraniana, mas para reforçar que nossa empatia é proporcional à humanidade que concebemos a quem sofre.
Quando alguém se diz em choque ao testemunhar o arbítrio contra pessoas brancas de olhos azuis, ela está, na verdade, introduzindo mais um entre tantos entraves para que outras pessoas — sem pele branca ou olhos azuis — consigam se salvar do mesmíssimo conflito.
Prova disso é que, após escaparem das bombas em suas cidades, imigrantes negros, árabes e asiáticos que moravam na Ucrânia passaram a lidar com insultos e hostilidades de autoridades indispostas a deixar que eles entrassem em países vizinhos. Esses grupos passam horas no fim da fila para embarcar em trens. Há relatos, também, de agressões físicas e verbais.
Em meio à crise de refugiados, o racismo que opera nos países de destino está a postos para dizer não só quem pode morrer ou viver, mas quem pode ou não ser acolhido em sua vizinhança. Vale para a Europa, mas vale também para o Brasil — onde o mesmo presidente que promete conceder vistos humanitários para ucranianos já se referiu a refugiados sírios como a "escória do mundo".
Toda guerra é um lembrete do fracasso civilizatório. Mas a forma como a noticiamos mais reforça do que desmonta as máquinas de moer gente, postas a prova antes e depois de um bombardeio. Essas engrenagens seguem ativas para agredir a pauladas os refugiados que fugiram ontem da guerra para morrer no quiosque das praias mais bem frequentadas amanhã. Alguém realmente se importa?
Em 2015, o mundo parou o jantar ao ver a imagem de um menino sírio que tentava atravessar o mar com sua família e foi encontrado morto em uma praia da Turquia.
Desde então, a crise global dos refugiados só se acentuou. A criança virou o símbolo dessa crise. Ele não sobreviveu à travessia, mas passou relativamente imune à indiferença dos espectadores por ter sido encontrado com o rosto enterrado na areia. De costas, aquele garoto poderia ser qualquer um de nossos filhos.
Com os traços de sua origem, provavelmente seria mais uma vítima do choque seletivo, acionado quando é preciso separar quem são os bárbaros (e os filhos dos bárbaros) e "nós".
O personagem de Joaquin Phoenix talvez fosse otimista pensando que alguém diria "que horror" ao ver o suplício de Ruanda antes de voltar ao jantar. As guerras, a fome, as discussões dentro dos edifícios, escreveu Carlos Drummond de Andrade, provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda.
Nesse tempo em que a vida, sem mistificação, é uma ordem, ninguém diz mais "Meu Deus". A não ser quando o agredido se pareça com a nossa projeção de civilidade.






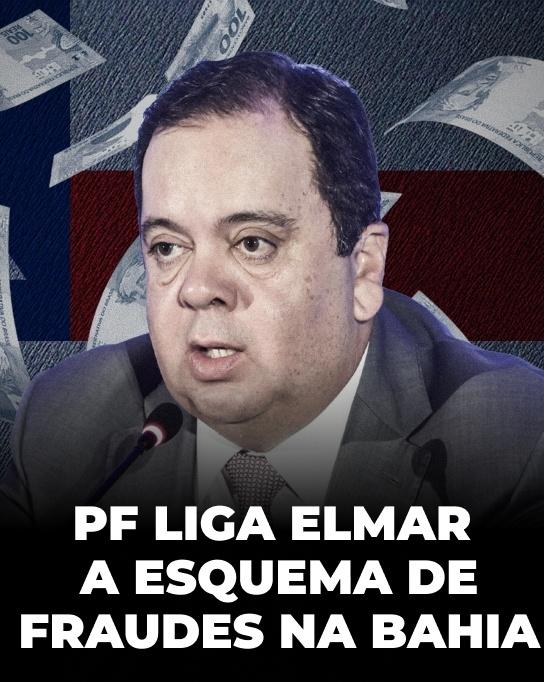












ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.