Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
'Por neutralidade, imprensa defende posições conservadoras', diz sociólogo

Em setembro, o colunista da Folha Leandro Narloch fez um texto de título e conteúdo controversos: Luxo e riqueza das sinhás pretas precisam inspirar o movimento negro.
A coluna conversou com o sociólogo Matheus Gato, pesquisador do Afro Cebrap e professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), com foco no movimento pós-abolição, sobre o tema. "O jornalismo brasileiro tem trabalhado com uma ideia de falsa democratização e, ao fazer isso, silencia pesquisadores", afirma. Na conversa, ele descreve a mudança na discussão antirracista, antes encabeçada por intelectuais brancos. E fala também sobre o que ainda precisa mudar na percepção de nosso passado escravizado e como a imprensa deveria tratar a violência policial atual contra negros: "O tema não vende?", questiona.
Veja trechos da entrevista.
No final de setembro, o colunista da Folha de S.Paulo, Leandro Narloch, publicou um texto a respeito das "sinhás pretas". Como você avalia esse debate?
MG: Em primeiro lugar, precisamos falar do papel da imprensa. A Folha de S. Paulo dá espaço para esse tipo de argumento de maneira recorrente. Esse assunto não é recente. Espera-se de um jornalista que ele verifique: quem já trabalhou com isso? Já houve outras pesquisas sobre o assunto? Tem muitos trabalhos interessantes que trataram desse aspecto em particular. João José Reis, um dos principais historiadores brasileiros em atuação, escreveu um artigo em que trata a respeito dessa questão chamado “Por sua liberdade me ofereceu uma escrava”. Mas a busca pela polêmica vazia deve ter impedido os repórteres de procurar fontes abalizadas.
É preciso discutir o papel da imprensa?
MG: Sim. Sob o escudo de uma suposta neutralidade, defendem-se posições conservadoras. E isso não é saudável para ninguém. É um mundo onde a polêmica é mais importante do que o tratamento sério das questões. Talvez um dos piores elementos do debate em torno das "sinhás pretas", nome que em si já é problemático, seja todo mundo tratando como novidade um tema que historiograficamente é velho. A novidade do debate é o que ele tem de pior: a mobilização ideológica do passado.
E como esse fato é analisado?
MG: No século 19, de fato existiam pessoas negras que podiam comprar escravizados. Algumas mulheres africanas conseguiam a alforria e às vezes alforriavam seus familiares, mas também compravam escravizados e investiam no comércio. O que sempre se esquece é que na verdade a gente está falando de uma quantidade muito pequena de pessoas. Comprar um escravo era muito caro nessa sociedade, muito inacessível. Mas, no texto do Narloch, o passado é o que menos o interessa.
Como assim?
MG:A ideologia que sustenta o argumento dele, de forma implícita, é que vale tudo em nome da propriedade. Isso simplifica o debate intelectual além de ser um “ponto de vista” cruel num país onde as pessoas que não têm nada voltaram a passar fome. Ele pressupõe que por uma pessoa negra ter comprado um escravizado, a escravidão seria um mero empreendimento individual e não poderia ser lida como ligada às estruturas clássicas de exploração do Ocidente e da formação do capitalismo. A produção de algodão do Nordeste brasileiro na primeira metade do século 19 está conectada à Revolução Industrial. Há relações de exploração engendradas em escalas mundiais, gerando lucros absurdos, por um lado, e humilhação, violência, pobreza e morte numa escala enorme, do outro lado. Tomar esses exemplos pequenos para mistificar e dizer que não havia fronteiras claras entre quem lucra e quem morre é um absurdo.
Narloch afirma que essas mulheres teriam interesses.
MG: O artigo tem um anacronismo enorme no argumento, no modo como ele projeta as supostas virtudes do "empreendedorismo" contemporâneo para o passado. Ele mobiliza essa ideia de interesse para o único agente que ele acha bonito — o empresário capitalista — e interpreta, de forma ridícula, mulheres negras que compraram gente escravizada como uma espécie de "microempreendedor" de outros tempos. Além disso, nesse texto, como para os senhores que requeriam a indenização dado o “patrimônio” perdido com a Abolição, a propriedade é vista como um direito absoluto, um direito maior do que a dignidade e o direito à vida.
O artigo é baseado no livro de Antonio Risério, "As Sinhás Pretas da Bahia: suas escravas, suas joias". Como você vê essa obra?
MG: Risério faz parte daquele grupo de intelectuais que, durante muito tempo, foram intérpretes autorizados sobre o mundo negro. Ele era o intelectual e os outros eram os nativos, cada um com o seu lugar de fala bem controlado e definido. Com o avanço das políticas de ação afirmativa e com a ascensão de intelectuais negros na esfera pública, ele e muitos outros ficaram deslocados. Mas o tom raivoso ou radical, sempre a espera de uma chance para fazer barulho e gerar alguma polêmica na imprensa, é sempre mais forte naqueles que foram deslocados sem uma posição – ou respaldo – em nossas universidades.
Por outro lado, ele foi formado numa ideia de democracia racial, de "mulatice", de sincretismo cultural, que não mais compõe o horizonte da democracia e conquista de direitos no Brasil. Vivemos um período da "morte do mulato". Os pardos de hoje não são como os mulatos de antigamente, com toda aquela conotação de ambiguidade "sou desse grupo mas desse outro também", "tô aqui mas tô lá", "tô na sala mas tenho o pé na cozinha", esse tipo de coisa. O Brasil que está na utopia dele realmente se transformou muito e há outras utopias em disputa.
Quais os maiores desafios para qualificar e ampliar um debate democrático sobre relações raciais?
MG: Aumentar a pluralização das vozes. Quando falamos de antirracismo, a multiplicidade precisa aparecer. A diversidade inclusive melhorou o debate público sobre o tema, nesta última década. Quando se compara o debate sobre racismo na imprensa brasileira depois do caso de George Floyd ao que foi a discussão sobre ações afirmativas nos anos 2000, notamos uma enorme diferença.
Na época, essa discussão foi conduzida por intelectuais, escritores e jornalistas brancos. Ou seja, foi um debate em que você tinha pouca pluralidade, pouca diferença de opinião e, sobretudo em que as pessoas se manifestavam de maneira desigual na esfera pública.
O que você sugere?
MG: A imprensa não é mediadora “neutra” de uma opinião pública supostamente espontânea partilhada na sociedade. A imprensa tem o poder de pautar o debate, conferir status a certas pessoas, selecionar e chancelar determinados discursos. Na minha opinião, a violência e o extermínio da juventude negra deveriam ser objetos de uma preocupação maior. Por exemplo, a economia é acompanhada diariamente na imprensa brasileira com especialistas de diversos espectros ideológicos. Ou seja, a preocupação e os cuidados com o mundo dos proprietários, dos ricos, é enorme porque infelizmente é quase só disso que se trata nas páginas de economia da imprensa brasileira. Por quê que a violência policial não é acompanhada dessa maneira? O que se faz é dar vazão aos casos escandalosos de violação dos direitos humanos, mas não o acompanhamento sistemático, como a economia brasileira recebe. Se a economia tem especialistas debatendo, todos os dias no jornal, por que outros campos da vida social não podem ter esse tipo acompanhamento e interesse? Isso não vende?









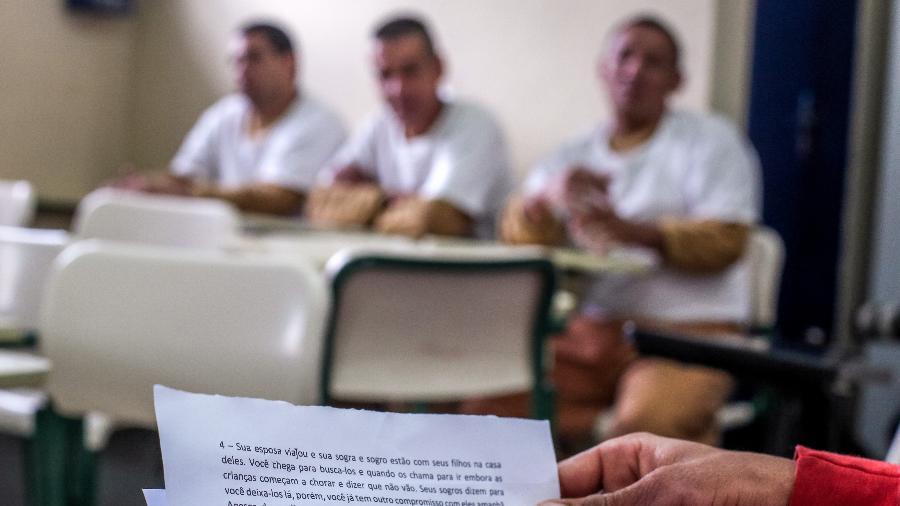









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.