Redes sociais nos infantilizaram na década 2010. E isso precisa mudar
Se pudesse radiografar meu estado de espírito na virada de 2020 para 2021, os leitores visualizariam meus órgãos internos sentados à beira da cama com o mesmo ânimo de um Bill Murray insone no filme "Encontros e Desencontros".
A ressaca — não necessariamente alcoólica — tem uma razão de ser. Enterramos a última década sem cerimônia ou ritos de passagem. O novo ano e a nova década já nascem impregnados dos anos 2010. Donald Trump não foi reeleito nos EUA, mas sua alma promete vagar por aí nos espíritos zombeteiros dos pastiches que ele inspirou mundo afora, inclusive por aqui.
Os espíritos infantiloides são e serão evocados toda vez que dois ou mais internautas — essa expressão tão 2010 — se reunirem nas encruzilhadas das redes sociais para desejar a morte de tudo aquilo que os contrariem. Inclusive o jornalismo profissional e a comunidade científica.
No catálogo da Netflix, dois filmes ajudam a entender por que chegamos a essa altura da história no pré-sal do desânimo em comparação às viradas de 2000 para 2001 e 2010 para 2011. Falo por mim, que tinha esperança de chegar a essa época vendo carros voadores no céu e não explicando pra marmanjo que talvez não seja boa ideia rejeitar máscara, cinto de segurança nem boicotar vacina, venha de onde vier.
Um dos filmes é o hiper-supracitado "Dilema das redes", documentário que juntou engenheiros, pioneiros e fundadores de gigantes como Google e Facebook para mostrar que nossa dependência de likes e visualizações nos colocou no mesmo barco de usuários de outras drogas. O filme indica que não é acaso que estamos mais agressivos e idiotizados. Agressão e idiotice rendem engajamento, e engajamento é ouro em pó quando o que está em disputa é nossa atenção e nossa propensão ao clique.
De inimigos em inimigos, imaginários ou não, deixamos de lambuja para gigantes da tecnologia nosso tempo, nossos gostos, nossos pontos mais fracos para serem diariamente manipulados à base de ódio, do medo e das teorias da conspiração. Os terraplanistas viraram clientes prime dessa esteira industrial; se eles não acreditam em aquecimento global porque o mundo é, na verdade, uma chapa, podem acreditar em qualquer coisa. Inclusive em remédios milagrosos. E salvadores da pátria.
Na década que se encerra, trocamos a profundeza de livros e do convívio humano pela sensação de bem-estar dos atalhos oferecidos pelas redes. Uma sensação que dura pouco e pede em seguida uma nova picada.
O outro filme é o polonês "Rede de ódio", que ajuda a entender como espaços de interação, em que queríamos apenas compartilhar links de músicas e fotos de gatinhos, se transformaram em trincheiras de projetos autoritários forjados por robôs e avatares. (Para além do sociopata retratado ali, o filme serve como alerta sobre a arrogância de uma certa elite intelectual que, a certa altura, se acreditou tão moralmente superior quanto imune à máquina online de destruição em massa).
Na vida real, essas figuras forjadas nas redes, incapazes de descarregar duas ideias claras numa folha de papel em branco, se tornaram lideranças nacionais. Aproveitaram-se da confusão, da insegurança e da tentação do senso comum. Surfaram em correntes de ódio, mentiras, ignorância e desinformação. E passamos a acreditar nas correntes mais absurdas, da mamadeira de piroca a "ideologia de gênero" nas escolas.
O resultado, só aqui no Brasil, são 190 mil mortos numa pandemia negada desde o primeiro instante.
Com o devido distanciamento histórico, um dia ainda vamos falar dos últimos anos, os que acompanharam a ascensão de smartphones e redes sociais, como os anos que nos infantilizaram. Que nos ensinaram a escrever "chola mais" ao fim de toda sentença. Que na covardia do anonimato e da distância nos encorajou a poluir páginas alheias com os chiliques mais rasos. E, por ironia, condenou indivíduos atomizados a replicar em coro, como manada (ou gado), verdades prontas sem qualquer reflexão.
A deterioração do debate público é o sintoma mais visível dessa lixeira. A das relações pessoais, assombradas por quem descobriu que o convívio, diferentemente da ostentação nas redes, é mais dura e contraditória do que supunham nossos stories na praia e nossas correntes do bem, é a outra face dessa dispersão.
Se pudesse apostar, diria que em 2030, daqui a dez anos, portanto, já não estranharemos se, antes de acessar nossas redes, sejamos bombardeados por alertas das autoridades sanitárias. Mais ou menos como nos maços de cigarros, seremos avisados que, daquele portal em diante, podemos infartar, envelhecer, sofrer, prejudicar quem não consome este produto, morrer e até brochar.
Até lá, seguimos com o que temos. E o que temos é uma época em que "Sujeito de sorte", de Belchior, entrou nas paradas de sucesso de uma geração desapontada, que viu nos versos "ano passado eu morri, mas neste ano eu não morro" um hino à resiliência, como já escreveram por aí.
Na década de 2020, pretendo voltar a Belchior, mas trocar de faixa. Prefiro gravar em metal os versos sobre o delírio da experiência com coisas reais. Amar e mudar as coisas. Aquela história toda que estamos cansados de não saber.
Feliz 2021. Na medida do possível.







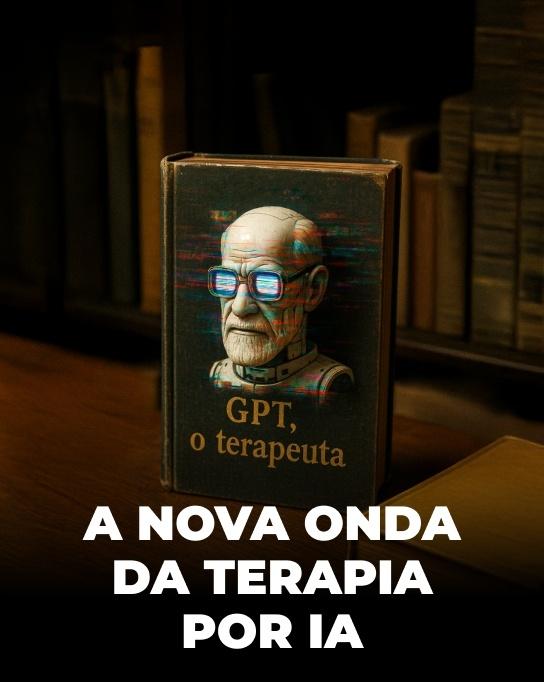











ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.