Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
'Vai pra favela': frase de socialite define como pensa a 'elite' no Brasil

"Vai pra favela" tem 12 letras — e um país inteiro desmascarado.
Assim como fez o morador de um condomínio de luxo em Valinhos (SP), branco, ao humilhar um entregador negro na porta de sua casa, a frase saída da boca sem máscara de uma socialite flagrada em uma festa clandestina de bacanas nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, escancara o que, num acordo tácito, deveria ser silenciado.
No primeiro caso, para quem não se lembra, o repúdio aos ataques contra o motoboy parecia finalmente unir o país contra a injustiça flagrante. Mateus Abreu Almeida Prado Couto, o riquinho racista, tomou uma refrega pública de lideranças à esquerda, como o ex-presidente Lula, e à direita, como Jair Bolsonaro e seus filhos. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) chegou a chamar o agressor de "babaca".
No caso dos patrões de Paulo Guedes, era preciso pegar os panos do receituário liberal para embalar a indignação com um dos seus eleitores que acabava de rasgar uma cartilha costurada durante séculos para legitimar a desigualdade que separa os dois personagens da cena.
Essa desigualdade é gritante já na arquitetura da cidade, mediada por muros, grades, câmeras e corredores onde uns servem e outros são servidos. Mas é engolida por palavras motivacionais segundo as quais o entregador, se trabalhasse bastante, talvez quem sabe um dia também tivesse acesso àquele espaço nobre. Era esse mantra que o agressor quebrava ao dizer, com outras palavras, que aquele trabalhador nunca moraria ali.
O racista do condomínio fundia, assim, o motor da meritocracia que funciona à base de uma cenoura pendurada à testa de quem teve o destino traçado antes mesmo de nascer — e contra os quais ninguém do andar de cima está disposta a lutar. Um destino costurado e inviabilizado por fatores (spoiler) alheios ao mérito, como local de nascimento e cor de pele.
Não por acaso, quando os barões se manifestam, a palavra racismo nunca aparece quando alguém é claramente vítima de racismo. Quem fatura com o discurso meritocrático prefere falar em "miscigenação" ou "que ninguém é melhor que ninguém por conta de sua cor, crença, classe social ou opção sexual (sic)", como escreveu Bolsonaro em suas redes. Para ele, "todos somos iguais, embora alguns trabalhem para nos dividir".
A menção a esses "alguns" deixa evidente quem pode e quem não pode falar sobre diferenças no Brasil. Vistas de cima, essas diferenças nunca produzem desigualdade. Se produzem, ela é temporária. Basta trabalhar para elevar seu padrão de vida, como ensinou o filho 03 em sua postagem.
Na festa clandestina, realizada num escritório de advocacia e animada pela dupla sertaneja Kauan e Matheus (é surra de Brasil que vocês querem?), os integrantes da força-tarefa, acompanhados e gravados pelo deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), ouviram de uma das convivas que a lei é igual para todos, mas uns são mais iguais que outros do portão para fora. O desembargador que se recusou a usar máscara e humilhou o guarda na praia não faria melhor. Ou faria?
Lugar de blitz, berrou a socialite Liziane Gutierrez, é na favela. Pela lógica da agressora, a polícia só existe para prender e esfolar pobre, e não para atrapalhar os planos obscenos de endinheirados.
Ali, a exemplo do seu companheiro de trincheira de Valinhos, a socialite pecava por desenhar com palavras a realidade que a vida inteira gente como ela tenta negar com o velho discurso meritocrático. "Somos todos iguais", "diferenças não condicionam desigualdades", "se todo mundo se esforçar bastante todo mundo terá direito a se divertir clandestinamente na casa dos doutores da lei num sábado à noite", "somos um povo só", etc.
Na elipse de uma frase com 12 palavras cabem os corpos de quem entra e de quem não entra na mira como suspeitos de infringir a lei. Só os últimos pagam fiança e vão embora. Os outros morrem numa guerra, da qual o policial da ponta é também a vítima, e com a qual ela e os outros convivas não se importam desde que se matem longe dali.
Com o dedo em riste, como a patroa que confere a sujeira nos móveis da casa, Gutierrez aponta e ordena para os órgãos de segurança que eles não têm o que fazer na casa grande; devem, em vez disso, promover a barbárie e impedir a revolta da senzala para dentro de um país onde cor, sexo, gênero e CEP determinam não só quem pode infringir a lei e se divertir, mas quem pode ou não reagir e seguir vivo.
Os suspeitos assassinados no Jacarezinho sem direito de defesa estão aí como corpos pendurados no poste para servir de exemplo.
Tempos atrás, o dono de uma mansão em Alphaville usou discurso parecido com o da socialite ao humilhar um policial chamado para averiguar uma denúncia de violência doméstica. Recebeu o guarda aos gritos: "Você é um merda de um PM que ganha R$ 1 mil por mês, eu ganho R$ 300 mil por mês. Eu quero que você se foda, seu lixo do caralho (...) Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville".
Ao fim da cena, todos correm para dizer que os ofensores não contavam com o domínio pleno da racionalidade. Sofriam com transtornos ou estavam sob efeito de medicamentos, bebidas e outras coisinhas que só dão problema com a lei quando seus defensores sobem o morro.
Naquela corte, nos Jardins, em Alphaville, zona sul do Rio ou no interior paulista, é preciso desacreditar e chamar de loucos os que expõem em palavras o que impera, ou deveria imperar, pelo silêncio.






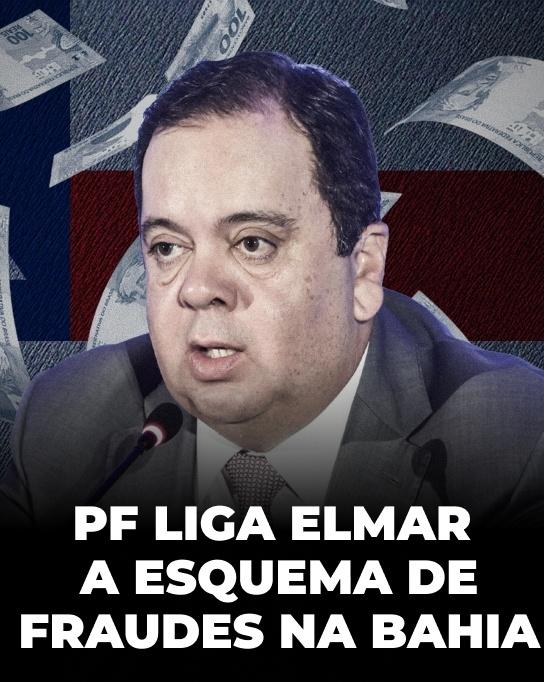












ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.