Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
Sem feijões e com fuzis, Brasil grita 'eu autorizo' para jogar seu Round 6

Em uma das cenas mais intrigantes do primeiro capítulo de "Round 6", a série sul-coreana que se tornou um fenômeno da Netflix, os sobreviventes de um jogo mortal, assustados com a carnificina que acabava de eliminar a tiros metade dos participantes, descobrem que podem encerrar a brincadeira macabra caso entrassem em acordo por meio de uma votação. Se a maioria aceitasse, a partida seria encerrada no primeiro round.
Uma urna de opção binária, com as opções sim ou não, é então levada até eles. O sufrágio tem início imediato.
Se o segredo do sucesso da série foi ter assimilado o espírito do seu tempo, a cena capturava ali um impasse político central. O processo de votação naquela sala trancada, cheia de armas apontadas para os eleitores, ocorre sem qualquer debate mais aprofundado entre eles.
Como máquinas, eles se levantam, apertam o botão e voltam a seus postos. Alguns até justificam a escolha, mas sempre pela perspectiva individual que descambava em bate-boca.
Quem decidia continuar via naquele matadouro ao menos uma chance de vencer na vida. Uma chance que não existia do lado de fora, onde todos trafegavam solitários, endividados, socialmente julgados e previamente condenados.
A alegoria parece óbvia.
Enquanto a série faz sucesso, milionários da vida real se divertem em voos espaciais às custas da destruição observada abaixo da estratosfera. Espectadores sádicos riem das desgraças pessoais expostas em programas de entretenimento da tevê — "vamos reformar a sua casa, desde que você aceite pisar em todos esses pregos levando torta na cara".
Trabalho escravo é justificado como oportunidade.
Nações miram suas armas contra nações e suas próprias populações.
Ossos de animais são disputados a tapa onde a carestia se tornou a regra.
No filme "Em chamas", do também sul-coreano Lee Chang-dong, o protagonista de origem humilde está prestes a perder tudo o que tem para o personagem rico da história. Ele pergunta ao algoz o que este faz da vida para conseguir ostentar tanta riqueza e tanta segurança na vitória. "Eu jogo", ele responde.
A frase misteriosa parece ser a chave para entender o jogo de vitoriosos e vencidos da série conterrânea. Um jogo que também estava em cena em obras como "Parasita", vencedor do Oscar que se passa em uma mansão cheia de escadas e alegorias hierárquicas em Seul.
Não é difícil, para alguém do outro lado do mundo, se identificar com aqueles personagens. Estamos todos condenados.
Lá, como cá, os desejos de expansão foram surrados pela lógica da sobrevivência. Ela encurta e danifica muitas das possibilidades de saída. Exclusão e eliminação tornam-se, assim, palavras-irmãs.
Na pandemia, esse abatedouro em que só uns estavam supostamente predestinados a atravessar a linha ficou evidente. As regras de quem apitava o jogo também. Vai morrer gente? Vai. Paciência. Lamentamos, mas a vida é isso aí: quem tem histórico de atleta passa para a próxima fase. Quem não tem, azar. Todos vamos morrer um dia. E entre os alvos principais dos tiros, digo, do vírus, estava gente obesa ou com alguma comorbidade. Menos mal. Daqui a pouco vão querer viver até os 120 anos. O jogo apenas encurtou o sofrimento. Vamos chorar até quando?
Naquela cena de "Round 6" é possível observar, em atos e discursos, a morte da mediação política para as saídas de impasses coletivos. Até para sobreviver é preciso ter mérito.
Antes de entender as razões de alguém apontar uma arma contra os próprios participantes do jogo é necessário entender por que alguém aceita se sujeitar a isso.
Essa sujeição é a etapa posterior à anulação daqueles personagens como sujeitos. Seong Gi-Hun, o participante interpretado por Lee Jung-Jae, é um zé-ninguém perante a mãe e a filha porque precisa de dinheiro emprestado para comprar um frango. Por não ter grana, ele (quase) nada pode fazer para impedir que a criança fosse tirada do seu convívio. O pouco que tem é disputado e pilhado por pessoas como ele. Curiosamente, o único presente que consegue dar à filha aniversariante é uma arma.
Como um sujeito solto em um conjunto disperso, Seong Gi-Hun vai sozinho à delegacia denunciar o absurdo que acabava de testemunhar. Sem outras testemunhas, o massacre é visto apenas como delírio de alguém que se desencontrou dos pares e do juízo.
Dentro do jogo, o que move os participantes convertidos em eleitores, como ele, não é (só) a vontade de vencer, representada pelo caminhão de dinheiro acima de todos. É o desespero. E, quando o desespero entra na conta, as armas deixam de ser um risco e se tornam uma baliza. Ao menos elas são visíveis e alguém está dizendo, sem meias palavras, que a regra é clara e violenta.
O resto é a barbárie.
No primeiro round, os participantes só podem caminhar em direção à linha de chegada enquanto um brinquedo-robô enorme, capaz de detectar qualquer movimento, toca os versos de uma inocente canção infantil: "batatinha frita, 1, 2, 3". Quem se mexer ao fim da música é alvejado.
Chama atenção, na cena, que boa parte dos eliminados apenas piscou ou tremeu os lábios antes de ter os corpos estraçalhados. Se fosse um jogo entre iguais, eles poderiam ao menos contestar a sentença. Essa possibilidade de defesa simplesmente não existe quando do outro lado da negociação está um fuzil. Os exemplos de quem se moveu em território vigiado e armado até os dentes e recebeu como alerta a pena de morte pululam na vida real.
Se vão morrer alguns inocentes, tudo bem, diria um filósofo da carnificina.
De 2018 para cá, o Brasil se tornou laboratório de um experimento sádico em que a plataforma eleitoral vitoriosa, torcida e retorcida, se resumia apenas a uma grande arma, acessível a quem tivesse condições, apontada aos participantes do jogo.
Num exercício de autoengano, topamos jogar o jogo porque não nos reconhecemos como possível alvo — nem do Estado nem das discussões no trânsito, da violência doméstica, dos ajustes de conta, das cobranças de dívidas.
A esperança, em ambos os jogos, é que só o outro seja eliminado.
Isso lá é esperança?
Vou tentar descobrir nos próximos capítulos.





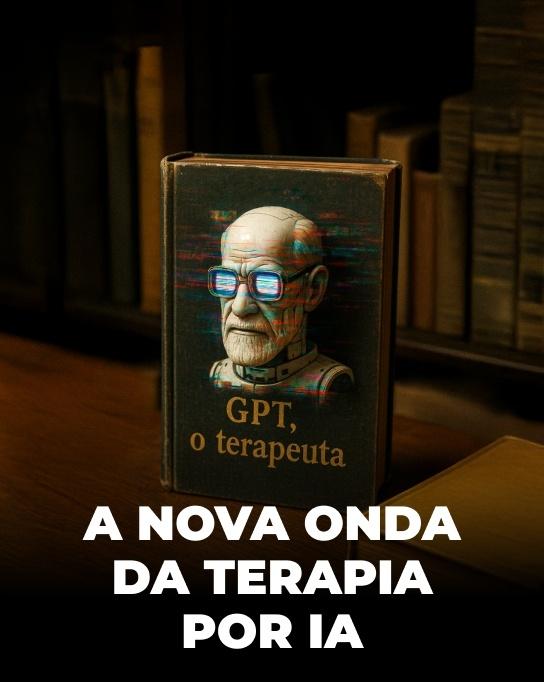













ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.