Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
É preciso chamar as coisas pelo nome: violência política, ódio, guerra

Hiram Warren Johnson tinha 50 anos quando foi eleito para seu primeiro mandato como senador pela Califórnia, nos EUA, em 1916. No cargo ele testemunhou o desenrolar das duas grandes guerras mundiais, a última delas encerrada em 1945, ano de sua morte. Não teve tempo de testemunhar os esforços para reconstituição da verdade sobre a barbárie racionalizada em territórios como o dos campos de concentração.
A ele é atribuída uma sentença segundo a qual, em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Nas trincheiras digitais, o senador republicano hoje divide a patente da frase com nomes como Ésquilo, Philip Snowden e Samuel Johnson, o que não deixa de dar sentido, via ironia, ao teste de veracidade da máxima.
Em 2022, até a palavra guerra foi suprimida dos relatos oficiais dos campos de batalha. Desde março soldados russos mantêm a vizinha Ucrânia sob ataques e bombardeios intensos, mas a agência de comunicação oficial do governo Putin não aceita o uso de expressões como "ataque", "invasão" ou mesmo "guerra". O nome oficial é "operação militar especial em Donbass".
Numa guerra, "mortes" viram "baixas" e ataques a civis, como os que habitavam nas áreas próximas a um shopping em Kremenchuk, se tornam "desativação de depósito de armas com mísseis de alta precisão". Nesse último evento, 18 armas morreram.
Quando vitimada, a verdade entra em um campo de disputa passível de manipulações entre a confusão e os destroços.
Na semana que passou, coube a uma delegada de São João de Meriti, na região metropolitana do Rio, a missão de enquadrar uma tentativa rasteira de perverter a linguagem: tratar como louco o médico anestesista preso em flagrante por estuprar uma paciente desacordada em trabalho de parto.
"Não vou dizer que ele (o estuprador) é maluco", declarou Bárbara Lomba, ao ser questionada sobre o perfil psicossocial de Giovanni Quintella. Mais possível, segundo a delegada, que ele seja um criminoso serial.
"Para uma pessoa ser inimputável, não basta ter uma doença mental, tem que estar comprovado que a doença comprometeu o entendimento da ilicitude", afirmou a delegada. "Não é o caso. Entendo que ele tinha discernimento pleno da ilicitude. Não vou chamar de doente."
A língua portuguesa, assim como as vítimas pretéritas e futuras do criminoso, agradecem.
Maluco, segundo o dicionário Houaiss, é o que ou aquele que sofre de distúrbios mentais, que age levianamente sem juízo ou seriedade; imprudente e consequente.
Atribuir um transtorno a um criminoso pego em flagrante serve apenas como bucha para estigmatizar quem realmente sofre com neuropatias como a esquizofrenia e a bipolaridade.
Em uma guerra de narrativas, a justiça exige que as coisas sejam chamadas pelo nome para que possa ser vislumbrada. Não é sempre que acontece.
"Pedro Maluco" era até outro dia o apelido do presidente da Caixa Econômica Federal. "Excêntrico" e "sem noção" eram as formas como seus amigos o descreviam.
Coube a um grupo de funcionárias do banco vir a público contar que de maluco o chefe não tinha nada.
Nunca se viu o parceiro das lives presidenciais rasgar dinheiro, mas testemunhas afirmam que eram comuns abordagens desrespeitosas, com direito a convites para visitas impróprias em quartos de hotel e apalpadas íntimas.
Para a linguagem jurídica, Pedro Guimarães não é acusado de fazer maluquices em sua gestão, e sim de praticar assédio moral e sexual.
Não faz muito tempo, um ex-secretário de Cultura que levou ao ar um discurso de evidente inspiração nazista foi normalizado ao ser tratado como "louco". O então guru do governo, Olavo de Carvalho, sugeriu que Roberto Alvim, seu seguidor, não devia estar bem da cabeça.
Era a senha para tratar o episódio como "caso isolado".
Em um tempo de violências flagrantes, nem a imagem mais nítida está imune às cortinas de fumaça produzidas pelo discurso político.
Há poucos dias, câmeras de monitoramento mostraram o momento em que um policial bolsonarista invadiu armado uma festa decorada com a bandeira do PT e matou o aniversariante.
Desde então o corpo da vítima está exposto em praça pública para servir a atores políticos armados de estilete e dispostos a retaliar a verdade como convém. Na conversão, um telefonema oportunista para semear discórdia e obter chancela política com uma família em luto chegou a ser nomeado como demonstração de "solidariedade".
Quem estava na festa conta que o invasor cometeu o crime em nome de Jair Bolsonaro, presidente que estimula o conflito da população enquanto distribui armas e coloca em dúvida o processo eleitoral e nossa capacidade de resolver conflitos sem pólvora.
Entender o que se passa exige montar uma linha do tempo entre discursos oficiais e ações governadas. Chamar episódios conexos de ações isoladas equivale a manter intacta a correia de transmissão do caos. É a receita para novas explosões.
Quem se aproveita delas corre para maquiar mortos e feridos em figurinos peculiares. No caso do assassinato em Foz do Iguaçu (PR), vítima e algoz passam a ser descritos, então, como encrenqueiros e a morte, como a consequência natural de uma briga entre "bêbados".
A naturalização da violência política ganhou endosso, na sexta-feira (15), com a versão apresentada pela delegada do caso, que concluiu não haver provas de que o crime tivesse motivação política. Afinal, o assassino só matou o anfitrião porque não gostou da forma como foi recepcionado ao invadir uma festa para mostrar com uma arma seu apreço ao direito do aniversariante manifestar sua preferência política. Qual o nome disso, então?
"Tudo leva a crer que era um desequilibrado", correu para dizer o presidente, ao se referir ao atirador, na conversa absurda (tem outro nome?) com os irmãos da vítima.
Em uma guerra, de fato, a verdade é sempre vitimada. Mas estamos em guerra? Ou estamos mesmo ficando malucos?
A última pergunta serve como válvula de escape sempre que atos governados pela razão parecem sair do controle.
Durante anos, a supressão da palavra "extremista" resultou na normalização de quem aspirou o poder entre apologia a armas e discurso de ódio. Em seu entorno, graves suspeitas entraram no escaninho do eufemismo até serem corrompidas e deformadas, a ponto de parecerem menores. Expressões como "rachadinha", "RP9" e "centrão" não expressam com honestidade a imagem acústica e honesta de seus significantes.
No tiroteio, mitômanos profissionais se convertem em "produtores de narrativas" e a verdade escorrega das mãos. Não sem a sensação de que adoecemos e ficamos com o juízo avariado.
O que parece loucura é, na verdade, vertigem.
Sair desse estado de alheamento exige um exercício anterior. Não é possível pensar em saídas sem resgatar o nome certo das coisas.





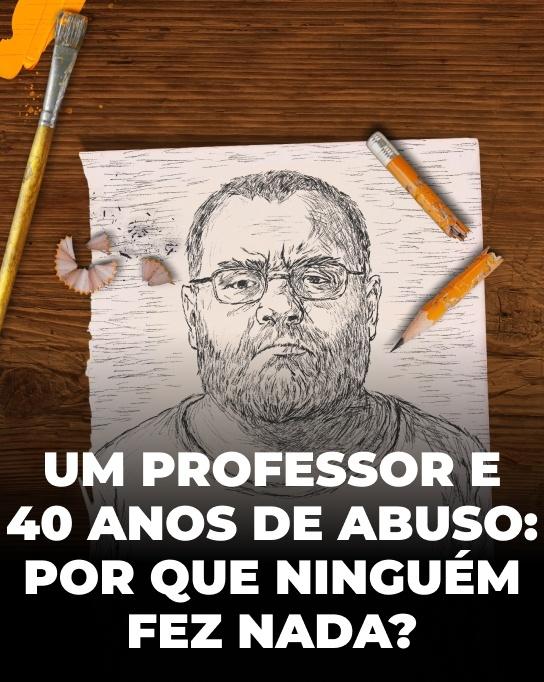













ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.