Como uma pequena cidade gaúcha virou símbolo da crise climática no Brasil

No último dia 18, o Rio Grande do Sul sucumbiu mais uma vez às tempestades. Ao todo, 179 cidades gaúchas foram atingidas, deixando 29 mil pessoas desabrigadas. Alguns bairros de Gramado, por exemplo, estão com o asfalto rachando.
Quase toda a pequena Muçum, a mais atingida pelo ciclone extratropical de setembro, teve que sair novamente de suas casas. Cerca de 180 estão nos abrigos geridos pela prefeitura.
Desta última vez, os cerca de 4.000 moradores perceberam antes o risco e, por isso, não houve mortos nem feridos — situação bem diferente da enchente anterior, a maior da história do município, visitado pela reportagem do TAB logo após a tragédia.

Das 49 mortes registradas em todo o estado em decorrência da catástrofe, 17 foram em Muçum. Três pessoas estão desaparecidas até hoje (elas também são consideradas mortas pelo poder público).
Até setembro, a casa de Elisabete Simonai, 65, nunca tinha sido invadida pelas águas do rio Taquari. Mesmo nas piores chuvas, o alagamento não ia além da calçada. Na noite de 3 de setembro, porém, a enxurrada alcançou o teto do segundo andar.
Água incontrolável
Naquele que seria o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, o primeiro alerta chegou às autoridades de Muçum pelo boca a boca. Ainda pela manhã, moradores de outras cidades da bacia do rio Taquari avisaram que estava chovendo de forma anormal na cabeceira.
Equipes da prefeitura começaram a pôr em prática um plano de ação para uma enchente "normal". Eles ainda não tinham informações sobre o tamanho da cheia, mas, quando o rio Taquari chega aos 18 metros, as primeiras casas já são atingidas (o leito normal é de aproximadamente 3 metros).
As famílias que moram em áreas inundáveis começaram a ser removidas para um abrigo às 15h. Cerca de uma hora depois, a CPRM enviou uma projeção de que o Taquari poderia chegar a 22 metros no fim do dia. Seria a maior cheia da história.
Como a cidade não tem sistema de sirenes, a prefeitura contratou motos com alto-falantes, pedindo que as pessoas saíssem de casa. Em grupos de WhatsApp, o prefeito fez o mesmo apelo.
Às 18h, a CPRM (atual Serviço Geológico Brasileiro) atualizou o boletim, alertando que a nova projeção era de 25 metros. "A gente não tinha nem noção de onde chegaria essa água porque nunca tínhamos visto uma elevação desse tamanho", lembra o coordenador da Defesa Civil, Rodolfo Pavi.

A essa altura, a rua de Elisabete Simonai já estava começando a encher. Sem saber do risco que corria, ela levou a mãe, Zilda, de 90 anos, ao pavimento superior da casa. Baseando-se em enchentes passadas, a aposentada achou que seria suficiente se proteger da água barrenta que passava do lado de fora.
A enchente de setembro superou todas as projeções da CPRM. No pico do desastre, o rio chegou a 26 metros — quase a altura de um prédio de dez andares.
Morte no segundo andar
No segundo andar de casa, Elisabete sentiu a água nos pés. Já não era possível sair para buscar abrigo. Mãe e filha ficaram de mãos dadas, vendo a água subir acima de suas cabeças.
Perto dali, nas ruas do centro, a água do rio ganhou força de um mar bravo, com pequenos redemoinhos de lama em alguns pontos. Muitos moradores subiram ao telhado das casas, tentando se salvar. Quem ainda tinha celular ligava para o coordenador da Defesa Civil pedindo resgate.
O prefeito chegou a solicitar um helicóptero de resgate para a Defesa Civil estadual, mas o órgão informou que não tinha helicópteros para voo noturno.
Depois das 20h, a luz caiu, assim como o sinal de telefone. A partir dali, Muçum ficou no escuro e incomunicável. Mais de 80% da área do município estava debaixo d'água.
Elisabete e Zilda, no segundo andar, se agarraram ao sofá que boiava no quarto. As únicas coisas que Elisabete ouvia eram os gritos dos vizinhos e a mãe implorando para que a filha não soltasse sua mão.
Elisabete não sabe ao certo o horário em que o braço de Zilda soltou do sofá. Apenas sentiu o corpo ao seu lado afundando na água.

"Não sei de onde tirei força para puxar minha mãe, mas consegui levantar os braços e pernas e a coloquei em cima do sofá de novo. Perguntei se ela estava bem, mas ela não falou mais".
Zilda morreu afogada naquela noite, e Elisabete precisava continuar batendo os pés para não afundar também. Com medo de que a lama arrastasse o corpo para longe, ela segurou a mãe morta pelo braço por mais de sete horas, até a manhã seguinte.
'O som dos gritos'
No início da tarde do dia 3 de setembro, quando todos ainda esperavam uma enchente "normal", a assistente social Juliana Bao, 26, começou a acomodar cerca de 50 pessoas no abrigo da prefeitura. Localizado na parte mais alta da cidade, o local nunca havia sido atingido pela cheia do rio.
Quando ela percebeu a movimentação anormal da água, tentou fazer contato com as duas outras agentes do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que estavam em campo transportando outras famílias. As colegas estavam ilhadas em pontos diferentes da cidade e não conseguiram chegar ao abrigo.
Juliana ligou para os assessores da prefeitura, avisando que em pouco tempo a água invadiria o salão, e ela precisava saber o que fazer.
"As informações demoraram a chegar", diz ela. "A remoção tem que ser rápida, e o que chegava eram laudos técnicos de várias páginas." Àquela altura, o rio já subia numa velocidade de dois metros por hora.
Um dos desalojados, então, arrombou a porta lateral do abrigo. Todos deixaram seus pertences em cima de mesas e atravessaram a rua em direção à igreja, onde o padre acomodou os adultos, crianças, idosos e pessoas acamadas.
O abrigo acabou totalmente submerso, e o rio levou tudo que estava dentro.

Às 21h38, o sinal do celular caiu. Juliana só teve tempo de deixar uma mensagem para a família avisando onde estava. "A gente não sabia se os bombeiros iam chegar, se as pessoas estavam sendo resgatadas, a gente não sabia nada", conta.
Ela passou a madrugada em claro, ouvindo os pedidos de socorro que vinham de toda a cidade. "Pelo som dos gritos eu já imaginava que tinha sido uma tragédia", lembra.
O dia seguinte
Muçum amanheceu no dia 4 de setembro em meio à lama. Quase metade das casas estavam inabitáveis. O prefeito Mateus Trojan (MDB) chegou a dizer que a cidade, como era antes, não existia mais.
Os bombeiros só conseguiram acessar Muçum quando a água baixou, no início da tarde. Chegaram à casa de Elisabete Simonai, que havia passado a madrugada com a mãe morta. A sobrevivente foi levada ao hospital com sintomas de hipotermia.
O hospital, com capacidade para 35 leitos, tinha 150 pessoas internadas, em camas improvisadas e no chão dos corredores. Lá, uma sala de reunião foi improvisada como necrotério para a mãe de Elisabete e outros corpos de moradores de Muçum.

Uma das vítimas, Teresa Zilio, só foi encontrada dias depois, em uma cidade a 20 km de distância.
Ela era cunhada da agricultora Janete Zilio, 58. A família toda ficou em casa, na zona rural, durante a enchente. Não receberam alertas nem sabiam para onde ir.
Às 22h da noite, o rio engoliu a família. Janete se segurou numa telha de zinco. A cunhada, Teresa, agarrou seus pés para não ser levada pela correnteza, mas não resistiu à força da água. O cunhado se pendurou em uma árvore. O sogro, de 94 anos, já não estava no seu campo de visão.
Janete só ouvia os gritos do idoso. Quando a casa cedeu, ela foi carregada pelo rio por 18 km, se equilibrando na telha. "Eu rezava e gritava", conta ela, que foi resgatada por moradores de Muçum com uma corda.

O corpo do cunhado foi localizado por bombeiros, que avistaram o pé do cadáver para fora do monte de lama próximo de uma árvore, a 200 metros de onde ficava a casa da família. O idoso de 94 anos está desaparecido.
A primeira lista de desaparecidos, a maioria incomunicáveis, tinha 250 nomes.
"A gente não recebeu as informações a tempo de passar para as pessoas e eles entenderem", explica o assessor da prefeitura. "Quando caiu a ficha, a água já estava entrando."
Em uma das casas, uma família de três pessoas foi encontrada morta por afogamento. Amigos disseram ao TAB que eles se recusaram a sair por não acreditarem que a enchente atingiria a casa.
Caso emblemático
O Brasil nunca foi tão afetado por desastres naturais como em 2023. Eventos climáticos extremos, como o de Muçum, se tornarão mais frequentes e mais extremos na esteira do aquecimento global.
Uma pesquisa publicada este ano mostrou que em 72% dos municípios não há orçamento próprio para a Defesa Civil, a primeira a atuar nos desastres. Além disso, em 67% as Defesas Civis não têm nem viatura própria; em 30%, não há computador.
Em Muçum, os únicos materiais à disposição da Defesa Civil municipal são lanternas, cones e jalecos. O telefone para contato é o celular particular do coordenador da Defesa Civil, que é voluntário no cargo (oficialmente ele é secretário de Agricultura da cidade).
Antes da enchente de setembro, a cidade não tinha sequer um plano de contingência (este estava sendo elaborado pela prefeitura), muito menos um mapa de risco. "A gente não tinha condições mínimas de operar num desastre desse tamanho", admite o coordenador da Defesa Civil de Muçum, Rodolfo Pavi.

Não basta o alerta
O prefeito afirma que vai mudar o planejamento urbanístico da cidade e fornecer educação ambiental à população.
"Nosso objetivo é ter uma capacidade de reação melhor que a que tínhamos dessa última vez", diz ele.
O Brasil ainda não tem um plano nacional de prevenção e gestão de risco de desastres para apoiar estados e municípios. O foco hoje se limita a ações quando a catástrofe já está dada, como ocorreu em Muçum.

Preparar-se envolve mais que o monitoramento do nível de chuvas ou de rios. "É preciso pensar em rotas de fuga, condições para evacuação das pessoas, comunicação clara de risco etc", diz Victor Marchezini, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). "Não basta dizer que as pessoas foram alertadas. Elas precisam saber o que fazer."







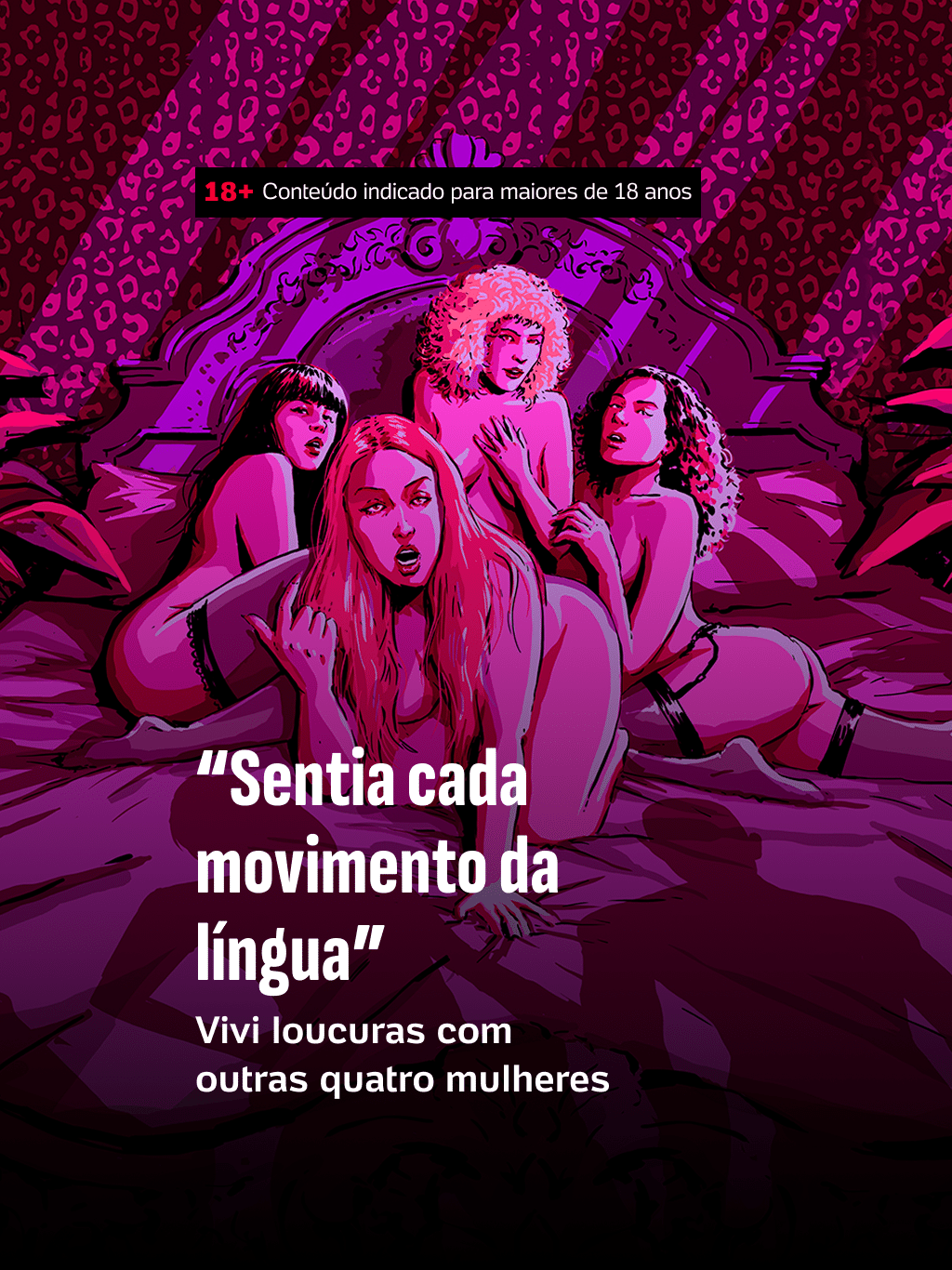

















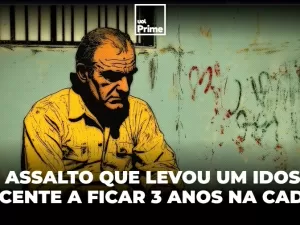

Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.