Padre e capelã evangélica trabalham juntos por acolhimento no Emílio Ribas

Em cima do púlpito de madeira, a Bíblia está aberta no Salmo 121. O padre lê: "Ergo os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus que fez o céu e a terra". Sua voz firme ecoa na capela do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. "É até significativo", reflete, referindo-se ao momento da pandemia.
Mesmo com o número assustador de 300 mil mortos por covid-19 no país, o padre João Inácio Mildner, 61, não deixou de bater ponto no hospital. Bem-humorado, quando pergunto a ele "como vai o senhor?", responde na lata: "O Senhor vai bem. E eu também", fazendo a capelã Neide Correa, 67, rir ao seu lado. "Ele sempre dá essa resposta" diz Neide. Ela e o padre trabalham juntos na equipe de acolhimento às famílias do Emílio Ribas.
Há 29 anos, o pároco auxilia, de forma voluntária, pacientes, familiares e funcionários que precisam de uma palavra de conforto. Chega às 7h e fica até a hora que for preciso. Com sotaque sulista carregado, conta que não pegou a doença até agora. "Deus protege", afirma. "E eu me cuido também, a gente fica com medo não só da covid-19, mas de outras enfermidades com a idade, mas para isso existem normas de precaução."
Andando pelos corredores do hospital, o padre é cumprimentado por quase todos os funcionários. Lá dentro, segue os mesmos protocolos de atendimento dos profissionais de saúde impostos pelo hospital: usa um avental igual ao dos médicos, mas com o emblema da equipe de acolhimento; máscara N95 (ou PFF2, na sigla em português) ou cirúrgica descartável, e está sempre usando álcool em gel. "Vou ter que cadastrar minhas mãos nos alcoólicos anônimos, elas não podem ver um álcool em gel que ficam trêmulas", brinca.
Por causa da idade, foi impedido de ficar aos pés dos leitos, mesmo já tendo tomado a vacina do Instituto Butantan. Quando algum paciente pede uma oração, o padre reza da porta, por trás do vidro. Em pedidos de extrema-unção, o protocolo é o mesmo: do lado de fora, o padre concede a bênção e o perdão ao doente.
Em alguns casos, o celular ajuda. "Fazemos o que é possível", diz. A função mais possível hoje é confortar as famílias, para quem também costuma passar seu telefone. O WhatsApp tem mensagem o tempo todo. Acostumar-se com a tecnologia não foi difícil. "Tenho celular desde o tempo da BCP, daqueles 'tijolão'", ri.
Em nome dos pais
Com as restrições em São Paulo, padre João Inácio não está mais realizando missas na capela da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), como faz há 25 anos. "Minha vida é ser 'filho da PUC', estudei na PUC de Curitiba e na de Porto Alegre", afirma, relembrando os cursos de filosofia e teologia que concluiu. Mas agora, é tudo online ou na solidão de sua casa, na Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo.
"É muito triste entrar na igreja e não ver as pessoas. Sem elas, somos como pastores sem rebanho", lamenta. Apesar das restrições, as igrejas têm permissão de permanecerem abertas, mas sem realizar cerimônias. Nem mesmo na capela do hospital se pode realizar qualquer tipo de missa. Os bancos de madeira ali presentes acolhem quem quiser conversar com Deus, mas não ouvem mais a palavra da boca do padre com a frequência de antes.
Em casa, a única plateia do padre João Inácio é seu cachorrinho shitzu, de dois anos, chamado Piá — nome que honra sua origem sulista. O pároco é de Horizontina (RS), "mesma terra da Gisele Bündchen", aponta, quase orgulhoso, dizendo que conheceu a modelo quando ela era criança. Desde 2019, o padre não vê sua família do Sul e não visita sua cidade natal. Sua última data com aglomeração foi o Natal do ano pré-pandemia. A maior saudade é poder se reunir com os amigos e a família. No dedo anelar esquerdo, carrega consigo o compromisso com Deus em forma de aliança dourada com uma cruz desenhada, presente de seus pais.
A vocação para a vida religiosa veio do berço. Padre João Inácio tem dois tios padres e duas tias freiras. Formar-se sacerdote sempre foi um sonho, que conseguiu realizar em 1986. Na época, descobriu também a vocação para o cuidado com o próximo, e oferecia ajuda a quatro hospitais. Seis anos depois, foi enviado a São Paulo. Nos anos 1990, viu muita gente morrer por causa da aids, antes da existência do coquetel antiviral.
Enxerga a situação da pandemia como ilógica. "No momento da doença, o que a gente quer é a presença da família, de um querido. Mas a pandemia nos obriga a nos afastar, é uma doença que separa as pessoas, é muito sofrido", reflete. Antes, se visse uma pessoa usando máscara na rua, ficaria com medo. Hoje, tem medo de quem não a usa. "É um sofrimento incomum."
Em nome dos filhos
A função de João Inácio no ambiente hospitalar nem sempre tem relação com a instituição que representa, a Igreja Católica. "Hospital é um ambiente muito frágil, não é lugar para converter ninguém", opina. "A religião, nesse momento, ajuda a pessoa a lutar pela vida. Qualquer crença ou espiritualidade incentiva alguém a viver, mas o lugar da missão é fora daqui."
O padre divide o espaço de acolhimento com Neide, evangélica há 30 anos. Às 8h da manhã, quando a reportagem de TAB chegou ao hospital, ela lamentava que já haviam ocorrido três óbitos e aguardava os familiares das vítimas chegarem. Durante nossa conversa, o celular não parava de tocar. "É o filho de um paciente que morreu", justificou. "Ele me pedia para mandar notícias do pai. Eu não entendo nada dos sensores ali, mas podia dizer que ele estava ali ainda, é um jeito de confortar", diz.
Na segunda vez que o telefone tocou em cima da mesa, era sua própria filha, que mora na Irlanda há três anos. Neide atende e fala que não pode conversar no momento, de novo. Em 27 anos de atividade como capelã e voluntária no Emílio Ribas, essa foi a primeira vez em que ela precisou enfrentar a família para exercer a atividade. Teve de ouvir que estava indo ao hospital para morrer, que não tinha amor-próprio — e nem pela família. "Falei que eu queria estar no hospital e não estava indo para morrer, mas para cuidar. Deus me chamou, e não para ficar escondida em casa", afirma. "Se ficasse só em casa, ia morrer de depressão, porque me sinto inútil." Na terceira ocasião em que o celular tocou, Neide nos deixou a sós com o padre João Inácio e foi cuidar de quem precisava de cuidado.
Ela contraiu covid-19 logo no início da pandemia, mas não tinha certeza do diagnóstico. Sentiu tonturas e perdeu o olfato. Quando melhorou e voltou para o hospital, fez o teste de IgG (imunoglobulina G), que indica se a pessoa já contraiu a doença, e recebeu o resultado positivo. Estava imune. Sem saber que era possível uma reinfecção, voltou a integrar a equipe de acolhimento sem medo, de máscara e munida de álcool em gel.
Fiel à sua vocação de cuidado ao próximo e à Igreja Batista, Neide viaja da Lapa (zona oeste) até o Emílio Ribas bem cedinho. Chega às 6h30 e ora todos os dias pela vida dos pacientes e dos profissionais de saúde. "Por causa de tudo o que está acontecendo, não tem uma vez que eu não choro", confessa. "Mas sei que Deus está no controle e que Ele tem seus planos e seus propósitos", reflete. Mesmo em tempos de crise, sua fé não foi abalada. "A gente não pode deixar de ter esperança."
Neide se dedica tanto à rotina do hospital que às vezes se esquece até de comer. Diz que fica contaminada pelo amor ao cuidado. Ela só vai embora quando as famílias que precisam de apoio deixam o hospital. Já teve dias de ficar ali até as 20h. "Quando é preciso, ligo para o meu marido e falo pra ele ir adiantando a janta", conta. Além do marido e da filha na Irlanda, Neide tem mais dois filhos e uma neta de 12 anos, sua paixão.
Toda a família é evangélica. Neide lamenta a falta dos cultos, que hoje assiste pelo celular ou pelo computador. Passa a maior parte do tempo no hospital, entre a sala de acolhimento às famílias, que fica no pronto-socorro, e o necrotério. Neide acompanha os parentes na hora do reconhecimento do corpo e ajuda na burocracia com as certidões de óbito.
No dia da visita de TAB, havia duas famílias enlutadas na sala de acolhimento. Mesmo sem poder visitar os leitos por conta da idade, Neide andava para cima e para baixo com os familiares dos pacientes e se desculpou por não poder nos dar atenção. Atendia sozinha naquele momento. Eram quase 11h e mais três pacientes haviam morrido.
Consolar quem perdeu alguém querido é muito difícil, Neide havia dito mais cedo. "A gente fica perto, mesmo que a gente não fale nada, isso já ajuda", afirma. "Muitas vezes você não abre a boca, só deixa a pessoa chorar e desabafar."











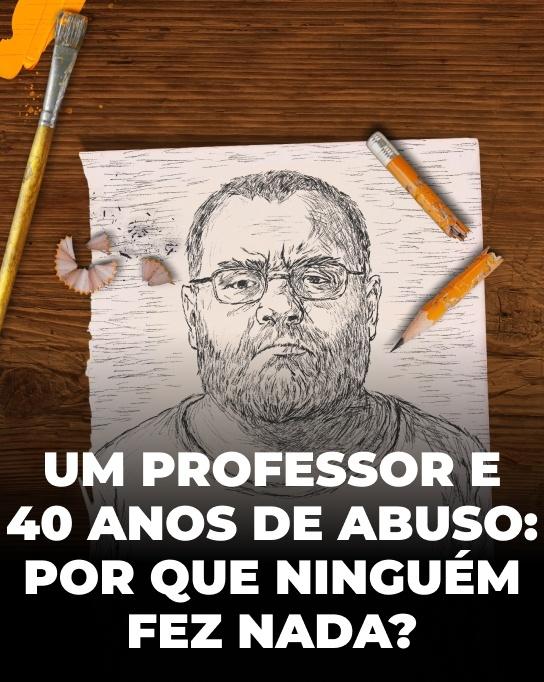













ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.