Texto baseado no relato de acontecimentos, mas contextualizado a partir do conhecimento do jornalista sobre o tema; pode incluir interpretações do jornalista sobre os fatos.
No caso do Afeganistão, sobram impressões e falta reflexão

As imagens afegãs impactaram as sensibilidades na última semana. Perante as incertezas e as dores, paira a vontade de compreender o que ocorre. Contudo, na ânsia por acomodar os eventos em explicações, podemos incorrer em fórmulas de análise imprecisas ou até mesmo preconceituosas. Ainda mais quando tratamos do que chamamos, de modo genérico, como "Oriente".
A respeito do tema, em 1978, o pensador palestino Edward Said escreveu um livro importante chamado "Orientalismo". Nele, o autor explica como o "Ocidente" criou uma série de ideias, noções e discursos a respeito do "Oriente". Said chama de orientalismo a forma de aludir e entender um conjunto variado de regiões e de histórias, "é um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente".
O discurso orientalista é resultado "das ocupações coloniais francesa e inglesa que se infiltraram e se popularizaram, ao longo de um século, primeiro na literatura e universidades, e depois no cinema e mídias ocidentais", explica a pesquisadora especialista no assunto, Helena Manfrinato, da USP. Em seu mestrado, a antropóloga estudou o impacto do 11 de Setembro sobre a visibilidade das comunidades muçulmanas no Brasil. Segundo ela, o discurso orientalista se pauta pela presença de duas forças incompatíveis e contraditórias: "O Oriente contra o Ocidente; o primeiro, marcado pela opressão e violência atávica; o segundo, como o arauto das liberdades individuais, democracia e benevolência civilizatória."
Uma das características do discurso orientalista diz respeito ao fato de que ele confere pouco ou nenhum contexto histórico sobre dezenas de países e a diversidade de pessoas que neles vivem. "O Oriente é visto como uma massa indistinta de mulheres oprimidas, governos tirânicos, guerras e pobreza. O Ocidente é visto como uma força cultural e civilizatória superior, em uma missão de levar iluminação a essas populações oprimidas", expõe Manfrinato.
Nessa chave de leitura, há a insistência em enfatizar aspectos como a vestimenta ou a religião das pessoas, comenta a antropóloga Francirosy Barbosa, professora livre docente da USP. Ela tem investigado as narrativas islamofóbicas no Brasil e avalia a repercussão recente a respeito do Afeganistão: "Ouço muito como as mulheres são 'coitadinhas'. Mas é preciso calma. Esse discurso desconsidera a agência delas. É muita prepotência nossa, ocidental e feminista, considerar que essas mulheres não tomam decisões e reivindicam suas pautas." Segundo Manfrinato, nos discursos orientalistas "a imagem da mulher 'coberta' foi tornada um ícone exemplo de ausência de direitos humanos, um termômetro que indica se tal sociedade é civilizada e democrática ou retrógrada e opressiva".
A postura que simplifica as nações, as histórias e as culturas acomete também parcela expressiva da imprensa brasileira. Em 2007, a pesquisadora Isabelle Somma de Castro, da USP, realizou um estudo para compreender como Folha de S.Paulo e Estadão cobriram assuntos relacionados a árabes e muçulmanos seis meses antes dos atentados de 11 de Setembro e seis meses depois. Após analisar 120 edições desses periódicos, ela revela como as escolhas de palavras e de imagens de ambos os jornais corroboraram conceitos orientalistas, estereótipos e estigmas que remontavam a um período medieval.
De lá para cá, infelizmente, pouco mudou, avaliam as pesquisadoras entrevistadas. "De modo geral, a mídia brasileira se vale de agências de notícias americanas e europeias para cobrir eventos internacionais, replicando não só as informações que circulam sobre esses eventos, mas os seus pontos de vista e enquadramentos", explica Helena Manfrinato. O uso indiscriminado de imagens de dor merece reflexão, alerta a antropóloga, "há uma preponderante insensibilidade em mostrar esses corpos em situações de sofrimento, ao contrário de pessoas de países ocidentais, que tem o privilégio da privacidade de sua dor".
Nesse contexto em que a complexidade do assunto é achatada, sobram as impressões, os preconceitos e as violências. "Toda vez que ocorre algo externo ao Brasil que tem envolvimento muçulmano, a religião é questionada", aponta Francirosy Barbosa. "Em outras situações semelhantes, onde a religião vira o foco, já tivemos pichação em mesquitas, mulheres que receberam pedradas, xingamentos, pessoas que perderam o emprego por usarem o lenço."
Ao contrário do que pululou na última semana — as imagens de corpos de mulheres muçulmanas cada vez mais coberto e como sinônimo da opressão —, Barbosa explicita a urgência de tratar de outras dimensões para a além da vestimenta. "Não se trata de lenço, barba ou turbante. Se trata de questões políticas e econômicas."
Para entender a complexidade do caso afegão, por exemplo, cumpre considerar alguns aspectos, comenta a professora. Em primeiro lugar, o país está imerso em um contexto político-econômico que antecede os Estados Unidos e guarda singularidades desde a sua formação histórica — relacionada à partição da Índia e do Paquistão e à invasão da União Soviética nos anos 1970. Em segundo lugar, não se pode desprezar a composição populacional afegã, que "não é um povo com unidade étnica, é um povo que se estrutura num país, mas que tem várias divisões internas". A dimensão econômica tampouco deve ser desprezada, salienta a antropóloga, pois "o Afeganistão tem uma plantação de papoula e um comércio grande de lítio, o que chama a atenção de outros países".
Já a simplificação e a redução do Islã a alguns poucos estereótipos distorce a realidade diversa dos países de maioria muçulmana ao redor do mundo. No que toca a forma de aplicação da fé de Mohammed, impera uma grande ignorância, explica Barbosa. "As pessoas pouco sabem que cada país islâmico tem uma jurisprudência própria. A jurisprudência que rege o Irã não é a mesma jurisprudência que está na Arábia Saudita, ou nos países do norte da África." Por sinal, menos uma religião excludente, trata-se de uma forma de professar a fé aberta, conta a professora: "O islã que eu estudei e que eu aprendo a cada dia, há mais de 20 anos, é a do diálogo. Tanto é que a palavra diálogo aparece 46 vezes no Alcorão."
Os discursos e as imagens a respeito do Afeganistão merecem uma reflexão profunda e crítica. Conforme destacam as pesquisadoras, além de atentar para os aspectos históricos, políticos e culturais da região, é fundamental colocar sob suspeita as narrativas que naturalizam a violência de países estrangeiros e os discursos orientalistas que simplificam mundos.









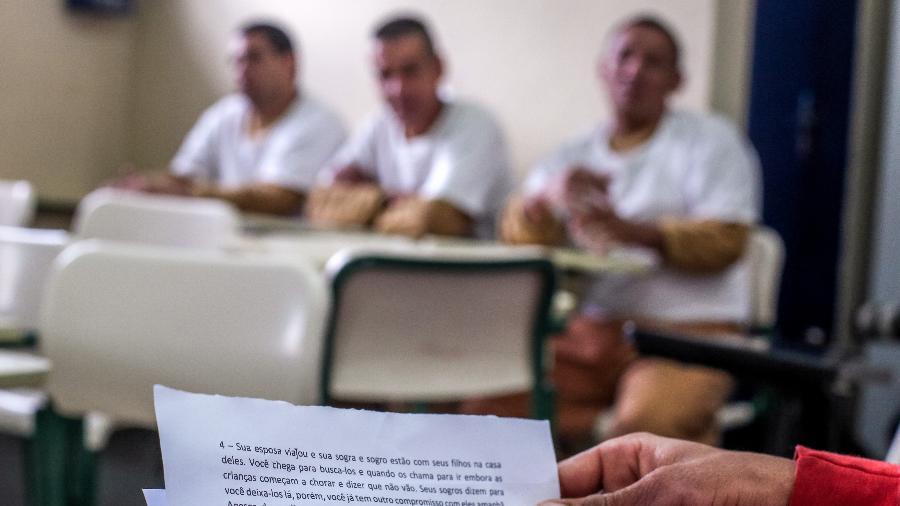









ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.