Nº de autópsias cai, mas pesquisas não param no maior necrotério do mundo

Era uma linha de produção: um técnico abria o corpo e tirava os órgãos. O patologista vinha e examinava. Depois, outro técnico fechava o corpo e levava embora. "Era assim 24 horas por dia nas sete mesas daqui. Agora essa sala está em reforma. Aproveitamos a pandemia para isso", lembra Luiz Fernando Ferraz da Silva, diretor do SVOC (Serviço de Verificação de Óbitos da Capital), no bairro de Cerqueira César, em São Paulo, olhando o piso novo e as paredes recém-pintadas.
Como nenhuma outra grande metrópole centraliza suas mortes naturais em um só local, esse é o maior centro de necropsias do mundo desde a virada do século. Em 2020, porém, reduziu pela metade a chegada de cadáveres porque o exame póstumo convencional foi proibido no Brasil e no mundo, pela possibilidade de contágio da covid-19.
Com média anual de 15 mil autópsias, o órgão ligado à Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) realizava o dobro de intervenções que o segundo colocado nesse ranking, o necrotério de Berlim, na Alemanha.
Os patologistas, um time de 12 plantonistas diurnos e noturnos, agora podem fazer suas refeições mais tranquilamente, sem ter de correr para as mesas metálicas onde investigam a morte de humanos. E os técnicos especializados conseguem sair mais vezes para o pátio — mãos ocupadas com celular e cigarro, em vez de bisturi e tesoura.
O processo atual foi acelerado: o médico só faz entrevistar os familiares e observar externamente os defuntos para determinar a causa da morte, reduzindo de três horas para 30 minutos o tempo médio para expedir as três vias da declaração de óbito, documento necessário para o ritual burocrático do luto, que leva ao enterro e à herança (de bens ou dívidas).
Na pandemia, os hospitais passaram a fazer mais dessas declarações, para encurtar o trajeto dos corpos até a sepultura. "Hoje, a gente recebe praticamente só quem teve morte natural em casa. Os poucos casos de suspeita de covid-19 que chegam são investigados aqui porque há um interesse científico. Até 48 horas após o falecimento, é possível colher amostra de muco com cotonete para comprovar o contágio. Já os hospitais estão mandando direto para o funeral, até mesmo quem chega já muito comprometido e não dá tempo de consultar bem qual é a doença", afirma Ferraz.
Resultado: 8.000 falecidos deram entrada pela garagem do SVOC em 2020. Outros 180 corpos, principalmente crianças e jovens, vieram pelo túnel subterrâneo de 100 metros de extensão que liga a morgue ao Hospital das Clínicas. Esses e mais 35 mortos que vieram pela garagem foram examinados minuciosamente porque eram casos bem diferentes das vítimas idosas, obesas ou com comorbidade.
O caos sanitário reforçou a importância das necropsias, com vários grupos de pesquisa da USP recolhendo e pesquisando amostras de tecidos de vítimas do coronavírus a partir de um novo tipo de procedimento. A AMI (autópsia minimamente invasiva) utiliza um aparelho de ultrassom para guiar os patologistas, que usam agulhas de biópsia e recolhem as células invadidas pelo vírus. Dessa forma, podem estudar seu impacto devastador em vários órgãos, desde o óbvio pulmão até o coração, o cérebro e o sistema reprodutor.
Ataque aos corações e testículos
Se o ritmo no necrotério reduziu, os pesquisadores da Faculdade de Medicina aceleraram suas coletas e linhas de pesquisa. O trabalho foi tão intenso que o patologista Paulo Saldiva, célebre por seus estudos sobre o impacto da poluição na redução da expectativa de vida, foi diagnosticado com burnout (esgotamento profissional). Durante a pandemia, ele examinou mais de 90 cadáveres e publicou um importante estudo de repercussão internacional, em parceria com a ultrassonografista Renata Monteiro, sobre a síndrome inflamatória multissistêmica no coração de uma criança morta pela covid-19.
Atualmente, há 25 projetos de pesquisas na USP e mais de três dezenas de artigos publicados com os dados e materiais obtidos pelo SVOC no ano passado, graças principalmente à técnica de autópsia pouco invasiva desenvolvida por lá pela professora Marisa Dolhnikoff. Com ela, cientistas estão detectando o lastro de destruição da covid-19 em órgãos como cérebro (alguns doentes apresentaram convulsões), glândulas salivares (descobriu-se grande concentração do vírus) e testículos (a fertilidade também pode ser afetada).
As imagens digitais orientam o caminho pelo corpo das agulhas de até 20 centímetros, que coletam tecidos a serem estudados em microscópios. O procedimento é, em geral, usado em biópsias em seres vivos, mas agora ajuda a estudar os mortos — os de covid-19 são plastificados e selados totalmente para não haver contato algum do pesquisador com os eflúvios.
A autópsia foi durante dois milênios a principal forma de entender a anatomia e a fisiologia humanas, mas acabou relegada a segundo plano na medicina com o surgimento dos diagnósticos por imagens. Atualmente, contudo, aparelhos de ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância magnética invadiram os necrotérios para ajudar a entender os vários desfechos biográficos.
Por uma porta lateral ao túnel subterrâneo, entra-se em uma zona altamente magnética: chaves são puxadas e cartões de crédito, desmagnetizados. A área de 500 m² foi escavada na terra e inaugurada em 2017. Ela é isolada pela chamada gaiola de Faraday, até para não afetar a estação Clínicas do metrô. Dentro está o Magnetom 7T MRI, primeiro equipamento de ressonância magnética para corpo inteiro na América Latina. A convergência de tanta tecnologia e tantos cadáveres faz dali um lugar único para descobrir como a morte pode explicar a vida.
Os pilotos da morte
Um solo roqueiro de guitarra toca alto enquanto o carro dá ré. Após manobrar e frear na entrada da garagem, o motorista fecha a janela e, quando abre a porta, já não há música. Ele sai, adota um ar solene e pergunta: "Quem são os familiares do Marco Aurélio?". Três pessoas se levantam. "Onde estão os documentos?", questiona o funcionário da funerária, com a missão de levar um dos primeiros mortos do ano para o cemitério. Marco Aurélio talvez tenha dito e ouvido "Feliz 2021" dias atrás. Ele não verá essa felicidade, mas quem verá?
O entra-e-sai de pessoas e veículos no SVOC é pequeno em relação à estrutura. Um carro fúnebre estaciona a cada hora. Os bancos de madeira para a espera dos parentes enlutados não chegam nem à metade de sua ocupação.
"Nossa, hoje o caminhão andou até de balsa. A gente foi buscar um corpo na ilha do Bororé [área à beira da represa Billings, na zona sul de São Paulo]", conta um motorista recém-chegado a um colega da morgue. O entusiasmo dele contrasta com a cabisbaixa família que aguarda a liberação da documentação e do corpo do falecido. "Não foi covid-19, não. Foi câncer. A gente vai fazer o velório do Robson, sim", diz ao telefone Raquel Prates, avisando os conhecidos sobre a morte do irmão de 63 anos.
O caminhão da Hyundai tem o brasão estadual e uma inscrição bem grande na carroceria: "transporte de cadáveres". Os carros fúnebres eram chamados antigamente de "rabecões", por serem escuros e volumosos como o instrumento musical, também chamado de contrabaixo acústico. Até três anos atrás, esses veículos oficiais tinham identificado o apelido pejorativo nas laterais e portas.
Cada turno desses motoristas dura 12 horas, o que dá, na média, três incursões pela cidade, em que podem recolher até quatro mortos no baú refrigerado. Quando chegam ao SVOC, escuta-se o ranger da porta do furgão e o estrondo metálico quando o corpo passa para uma maca com rodas. Uma etiqueta é amarrada com barbante no dedão do pé — é uma das tantas identificações para não trocar os defuntos. Eles são pesados e medidos antes do exame post mortem.
"Quando recolhemos alguém com suspeita de coronavírus, ponho a vestimenta completa do EPI [equipamento de proteção individual] da cabeça aos pés. Uso até duas luvas em cada mão para não ter erro. O corpo é colocado em um saco plástico, que chamamos de mortalha", explica Carlos Alberto Gomes, que há cinco anos trabalha para a Secretaria Estadual de Segurança Pública transportando corpos.
Reginaldo Viana é mais longevo. Trabalha há 34 anos no serviço funerário da prefeitura paulistana. Como vários colegas, pegou covid-19, apesar de toda a proteção. Ficou afastado por 20 dias e voltou ao batente. "Nós e os mortos por covid-19 ficamos todos envelopados no transporte para o cemitério. Só abrimos o saco mortuário para mostrar o rosto para a identificação dos parentes. Mesmo assim me contagiei."
Apesar do cotidiano dramático, um escaldado Reginaldo lembra que chorou apenas uma única vez durante o expediente. "A gente foi buscar uma senhora falecida, e o cachorrinho dela latia o tempo todo atrás de uma porta. Era tão insistente, que, na hora de ir embora, eu pedi para a empregada dela soltá-lo. Ele veio lentamente, deu duas lambidas no rosto da dona e voltou quietinho para seu lugar. Não consegui segurar as lágrimas."
No hospital Sancta Maggiore da Mooca, Reginaldo foi buscar nesta quarta (6) Aya Cereja Takahashi, 77, que morreu por complicações após infecção no fígado. Os filhos, Leni e Fábio, lembraram que a mãe, muito festeira, gostava de ser chamada por todos de Dona Cereja. O nome singular foi dado pelo avô japonês deles, que mal dominava o português, como uma tentativa de tradução para sakura. O termo nipônico, na verdade, denomina a cerejeira florida, o símbolo budista da impermanência. Pela tradição japonesa, essa flor não pode ser colhida, e suas pétalas devem cair e deitar no solo para reencenar a transitoriedade da vida.
As linhas da morte
Segundo o catolicismo, a alma deixa sua morada terrestre, passa pelo purgatório e vai aos círculos celestiais ou infernais. Já o corpo do católico transita por baú de caminhões, bagageiro de carros, macas rodantes, geladeiras, mesas e féretros até o túmulo — o passeio pode incluir um tanque de formol, onde precisa de uma temporada de 30 dias para se eternizar.
Por sua vez, os sobreviventes encaram simultaneamente o processo do luto moderno, que é a burocracia, curando as dores entre papeladas, guichês e repartições públicas, desde o policial iniciando o boletim de ocorrência até o agente funerário finalizando o cerimonial. Morre-se uma vez só, mas seu pagamento dá para parcelar. Na agência oficial da prefeitura, em um contêiner do lado de fora do necrotério, caixões com nome de flor saem de R$ 700 (modelo Jasmim) até R$ 13 mil (Tulipa), incluindo serviços para o morto e aos vivos.
A burocratização também perseguiu esta reportagem do TAB, com inúmeros telefonemas, e-mails e mensagens de WhatsApp para conseguir entrevistas, esclarecimentos e acessos aos locais. Na resposta de uma assessora da prefeitura, ela perguntou inadvertidamente: "Qual é seu deadline?".
O neologismo em inglês substitui a palavra "prazo" atualmente nos ambientes corporativos, mas originalmente, nos EUA do século 19, significava, como na tradução literal, "a linha de morte", área próxima das cercas nas quais os prisioneiros podiam ser alvejados pelos vigias confederados durante a Guerra Civil Norte-Americana. No século 20, o termo deixou a referência espacial e virou uma questão de tempo: deadline é o horário máximo para fechamento dos jornais, e a expressão acabou migrando para outras profissões e países.
O dia-limite da reportagem é hoje, 7 de janeiro de 2021, quando o Brasil chega à marca de 200 mil mortos oficiais por covid-19, número já projetado desde o início da pandemia se o governo não soubesse administrar seu sistema de saúde. As estatísticas só crescem diante de uma segunda onda que se avoluma e de um programa de vacinação atrasado. As linhas da morte, ao contrário da deadline deste repórter, sempre podem aumentar.




















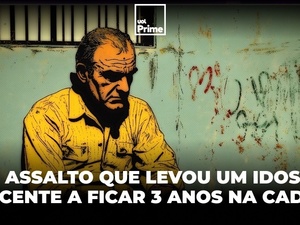

ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.