Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.
NFT: ricaços agora investem em 'bens digitais' que pouca gente pode ter

Ninguém nem imaginava o poder de destruição do novo coronavírus na última vez que falei com Júlia. Nos encontramos no corredor do shopping Iguatemi, centro comercial de luxo na capital paulista, em novembro de 2019. Assim que me viu, perguntou:
- E o livro da tese? Sai quando?
A jovem foi um dos personagens centrais da minha tese de doutorado sobre os ricos brasileiros. Ao longo da pesquisa, entrevistei e convivi com dezenas de endinheirados, buscando compreender como, por aqui, as elites constroem a identidade de classe e mostram aos outros quem realmente são.
Logo de partida, uma novidade. Diferente de países como Estados Unidos, França ou Inglaterra, no Brasil, os ricos não precisam (obrigatoriamente) de dinheiro para mostrar quem são. Isto é, as cifras bancárias ou a quantidade de números no contracheque não determinam a posição social de ninguém, o reconhecimento de nobreza ou influência na sociedade. É preciso mais.
O processo de industrialização, acelerado em meados do século 20, nos obrigou a lidar com um outro vocabulário de distinção, praticamente da noite para o dia. Antes, os ricos, ao estilo tradicional, construíam a própria distinção pelas coisas que tinham (terras, escravos, propriedades, estantes de livros, carros, sobrenomes e por aí vai). Mas, com a urbanização e a entrada forçada na modernidade, eles foram obrigados a entender que o dinheiro era o novo mediador na nossa relação com o mundo e na definição dos limites da nossa própria identidade.
Como o processo foi rápido, feito às pressas, paramos no meio do caminho, em um limbo. Ao mesmo tempo que acreditamos que o dinheiro marca a nossa diferença na sociedade brasileira e nos dá mais artifícios de poder ("quem pode, pode", como diz o ditado popular), ainda estamos apegados à ideia de que as coisas definem quem somos.
As "coisas de rico" não são importantes para nós somente pelos benefícios materiais que têm, mas, sobretudo, pela chance que dão aos outros de imaginar o quanto de dinheiro temos. Uma bolsa Louis Vuitton, um carro importado, um relógio com maquinaria suíça ou obras de arte trazem benesses concretas aos consumidores (afinal, não é miragem a qualidade do motor de uma Ferrari ou do couro de um item de luxo), mas o principal ganho está na capacidade especulativa que despertam nos outros de, vendo tais objetos, imaginarem quanto dinheiro temos. E, por consequência, quando imaginam que estão diante de alguém rico, um mar de privilégios e direitos exclusivos se abre para os bem-aventurados.
Enfim, as coisas de rico azeitam o trânsito social de quem as têm porque a capacidade imaginativa que despertam cria oportunidades restritas a um pequeno grupo. Só isso justifica o preço exorbitante desses produtos e a importância que possuem em nossos desejos de consumo.
Para funcionarem, as coisas de rico precisam responder a três premissas básicas. Primeiro, elas precisam ser legíveis. Aqueles com os quais convivemos precisam entender que se trata de coisa de rico. Segundo, elas precisam ser usadas com parcimônia e de acordo com a ocasião. Uma bolsa Louis Vuitton pendurada no braço de uma mulher em plena rua 25 de Março (região de comércio popular de São Paulo) não tem a mesma força que na rua Oscar Freire. Por fim, os usuários precisam estar atentos para que seus produtos não fiquem "gastos" socialmente. Se uma coisa de rico cai no gosto do povo e começa a aparecer junto de qualquer um, pouco a pouco começa a perder a capacidade imaginativa que continha em si.
No entanto, a chegada do novo coronavírus mudou a maneira como nos relacionamos com as coisas de rico. A força da digitalização, que transformou os hábitos de compra e o consumo de entretenimento e de diversão, impactou também a maneira como os ricos brasileiros se valem das coisas para dizer quem são. Minhas investigações apontam que, com a pandemia, as características das coisas mudaram, mas o jogo social ainda é o mesmo.
Aqui, voltamos ao encontro com Júlia.
A publicitária trabalhou como gerente de atendimento nas principais agências de comunicação de São Paulo, mas abandonou a carreira assim que seu marido fez o IPO (abertura de capital na bolsa de valores) de sua startup fundada lá pelos idos 2015. Desde então, com a grana no bolso, virou "sociabyte" — termo que uso para classificar as madames dos tempos digitais.
Nas vezes em que visitei sua casa durante a pesquisa de doutorado, antes da pandemia, seu closet era abarrotado de coisas de rico. Bolsas de todos os tamanhos e grifes, joias nababescas e móveis de designers famosos davam forma ao apartamento. O marido tinha coleção de carros na garagem, um apartamento em Nova York e ostentava no pulso um relógio do mesmo valor de um imóvel nos bairros mais caros de São Paulo.
No Iguatemi, depois de me perguntar do livro, Júlia fez questão de me dizer que o casal tinha abandonado o consumo de itens de luxo e investia pesado em coisas digitais. Disse que o apego aos objetos se foi e que agora estava mais preocupada em ter coisas que não prejudicassem o meio ambiente. Nos últimos tempos, organizou um bazar para se livrar dos excessos do armário e vinha investindo pesado em produtos digitais com certificado digital. Era mais "bit" do que "it".
A primeira compra foi um tênis digital lançado pela Gucci, marca de luxo italiana. Júlia e o marido compraram o primeiro lançamento virtual da marca, um tênis de mentirinha, efeito de realidade aumentada, para usar nas redes sociais e em jogos online. O Virtual 25 custou US$ 12. O item veste os avatares digitais com um cano alto e cores fortes como verde, rosa e azul. O sucesso foi tanto que os líderes da empresa apostam no aumento do portfólio de produtos digitais para saciar a fome de compra dos consumidores.
Sem entender muito bem o porquê do investimento nesse tipo de produto (o emergente mercado da cryptoart é apenas um dos exemplos), perguntei a Júlia sobre qual era o sentido de comprar coisas que não poderia guardar no armário. E mais, como só existem por conta das plataformas digitais, seus bens poderiam desaparecer a qualquer momento, caso os dirigentes da plataforma assim decidissem. Júlia não levantou a pestana diante dos meus questionamentos e mandou na lata:
- Não tem diferença. Nunca foi um bem material. Não é à toa que a gente se livrava delas quando não serviam mais. Eu tô é preocupada de entrar e lacrar as inimigas e todo mundo pensar: "meooo deoooos, olha o que ela tá usando. De onde essa mulher tirou isso?" Dali já me chamam, puxam uma conversa e, talvez, até um negócio. Se não dá mais pra fazer isso no Iguatemi, a gente faz no Instagram.
Seja no "it" ou no "bit", as coisas de rico nos catapultam para universos sociais exclusivos, permitidos a poucos, ajudam seus usuários a inventar quem são. Pelo visto, no futuro, o dinheiro sozinho não conseguirá definir quem é quem no Brasil.
PS: Júlia, o livro vai demorar um pouquinho mais. Tô terminando esse capítulo sobre as coisas digitais. Guenta aí!




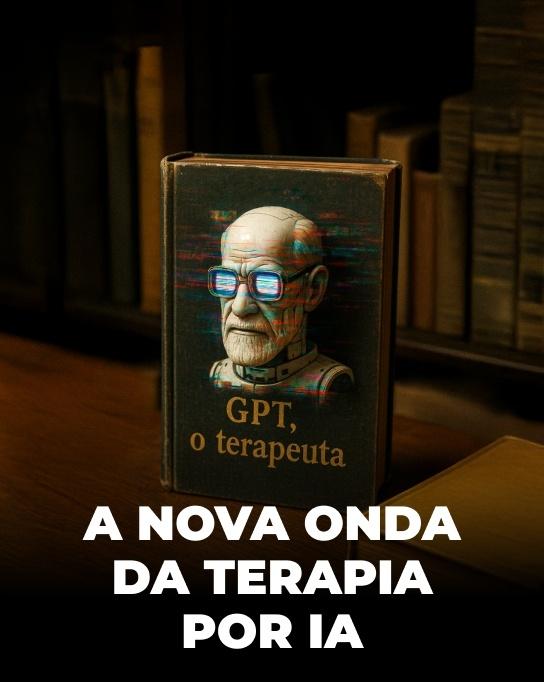











ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.