Engarrafados, trânsito e água completam 110 anos de 1º registro no Brasil

Tem um tipo de pessoa que vibra diante daquele megacongestionamento de véspera de feriado, com obras na pista e pontos de alagamento. "Já teve sexta-feira que a marginal parou, e eu tirei mais de R$ 300. Acabou todo o meu estoque", lembra o piauiense Manoel Ferreira Lima, que vende água há 25 anos nas proximidades da ponte das Bandeiras, à beira do rio Tietê, em São Paulo.
A engenharia de tráfego tomou dos líquidos uma série de termos, como fluxo, gargalo e engarrafamento. Embotellamiento em espanhol, imbottigliamento em italiano, embouteillage em francês e até traffic jam em inglês mostram que a metáfora não é exclusividade nossa. No Brasil, porém, uma data marca os primeiros registros de engarrafamento, tanto de carros quanto de água mineral: 1911.
Há 110 anos, em 12 de setembro, o Theatro Municipal de São Paulo era inaugurado com a apresentação de "Hamlet", na versão operística de Ambrósio Thomas. A verdadeira tragédia, porém, aconteceu nas ruas do entorno: além das carruagens, as longas filas contaram com mais de 100 automóveis (dos 300 registrados na cidade, contra os 7,5 milhões da atualidade). A maioria dos espectadores chegou só no segundo ato, afinal, "ninguém teve a iniciativa de descer e seguir a pé, seria escandaloso", descreveu Jorge Americano, escritor que presenciou aquela noite premonitória.
Em outra frente, é de 1911 a primeira contabilidade nacional da produção de água mineral engarrafada. Do total de 1,4 milhão de litros, 86% eram processados em Minas Gerais, e 14%, no Rio, segundo dados coletados pelo extinto DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral). São Paulo, hoje maior produtora (com 34% do país), só começou a engarrafar água em 1921.
Naquela Belle Époque, a água mineral era vendida por seus poderes curativos e medicinais, além de ser apresentada como prevenção contra "o tifo e outras febres", em meio à contaminação de rios e à pouca higiene pública. As primeiras engarrafadoras foram criadas nas cidades mineiras de Caxambu e São Lourenço, no final do século 19, mas a produção e o comércio demoraram para fluir pelo país.
Nascida em Passa Quatro, outra estância hidromineral do sul de Minas, Lúcia Maria de Fátima, por esses desatinos do destino, ganha a vida à beira do poluído rio Tamanduateí. Junto com a família, ela vende água na esquina das avenidas do Estado e Cruzeiro do Sul, no centro paulistano. "O pessoal não quer nem baixar o vidro com medo do contágio. Com essa pandemia, o dinheiro que a gente ganha é só para comer", conta Lúcia.
Banho de água fria
Com o marido, a filha e três netos, Lúcia, 59, mora há 10 anos no porão de uma casa centenária a 50 metros de onde trabalha. "É pouca a iluminação e a ventilação. O chuveiro está quebrado. Os únicos que tomam banho quente são as crianças, porque a gente esquenta água no fogão. Mas é o cantinho que a gente conseguiu", relata a vendedora.
A família começa no batente às 9h, mas às 12h recebe o reforço do filho Luciano, que de manhã está às voltas com água e sabão em um lava-rápido. "O pessoal compra mais depois do almoço. Tem o calorão, e a água ajuda a baixar a comida também", argumenta Luciano.
Lúcia conhece bem o lado pobre do centro de São Paulo. Habitante na fronteira entre os bairros da Luz, Brás e Canindé, morou em ocupação de prédio público, cortiço em casarão antigo e todo tipo de pensão. Enfrentou despejos e já alimentou muito a família com sopões e marmitas doadas por religiosos.
"Teve uma época que a gente morava em uma maloca, e começaram a vender droga no térreo. Eu ficava com um medo danado de a polícia entrar e quebrar tudo que era nosso", se recorda. Um dia, o Tamanduateí transbordou de tanta chuva, a vizinhança toda foi se refugiar no quarto da família de Lúcia. "Só dava para sair dali nadando."
A fase mais próspera foi quando cozinhava em uma pensão de travestis. "A cafetina pagava direitinho. E as meninas adoravam minha comida. Viviam repetindo. Não tem como uma mineira cozinhar mal." Com o dinheiro que sobrava pagou até um curso de teatro para Samanta. Como a mãe, ela sonhava em ser atriz. "Até hoje lembro de uma fala: 'Romeu, oh, Romeu, onde estás, meu Romeu?', mas me tiraram do papel de Julieta, e eu não quis mais ir", conta Samanta, 22, que largou os estudos no 2º ano do Ensino Médio, após ter o primeiro de seus três filhos.
Sua plateia agora está sentada dentro dos carros. Seus colegas de cenário não são nem os Montéquios nem os Capuletos: são vendedores de bala, pano e prato e de chão, raquete de mosquito, carregador de celular, capa de volante, salgadinho, mapa, fora os meninos que lavam para-brisas.
Nessa história, até um vilão apareceu. "Um cara queria tomar o ponto. Quebrou nosso isopor e ameaçou bater", conta Samanta. No dia seguinte, eles voltaram com caixa nova para o semáforo em que trabalham há uma década. Hoje, lucram R$ 50 em um dia de vendas. Antes da pandemia, tiravam o dobro.
Águas passadas
O rio Tietê corre lentamente, e os carros à sua volta mais ainda ao entardecer. Manoel e Rita estão na ilha entre a via local e a expressa. Levando carrinho, isopor e sacolas, observam o movimento sobre o asfalto, como se fossem pescadores que sabem onde estão os cardumes. "Já às 16h30 dá para saber se o dia vai render", ensina Manoel Ferreira Lima, 57.
Ele trabalhou em hidrelétricas como Tucuruí, no Pará, e Balbina, no Amazonas. Mas parou de represar e tirar energia dos rios para vender água cristalina à beira de um leito contaminado.
O mercado da água mineral explodiu no Brasil nos anos 1990, triplicando o consumo. Isso atraiu o investimento de grandes corporações como a suíça Nestlé, a francesa Danone e a norte-americana Coca-Cola, que compraram fontes no país, que tem parte do território sobre a maior reserva de água doce do mundo, o aquífero Guarani.
Por essa época também, mais exatamente em 1996, Manoel comprou "o ponto" de outro ambulante e foi adicionando itens no cardápio: salgados, amendoim, gelinho. Chegou a ter uma equipe de quatro marreteiros trabalhando para ele. Hoje, tem apenas uma: a baiana Rita começou como funcionária, mas um ano depois virou mulher dele.
Além das vendas, os dois dividem a residência-depósito que Manoel criou, derrubando uma parede embaixo de uma das torres das Bandeiras. Atrás da porta de ferro com cadeado, há geladeira, fogão, lava-roupa, mesa, cama e TV, na qual Manoel assiste aos telejornais após o expediente. "Gosto do Jornal da Cultura porque tem bastante opinião", confessa.
Como tem formação de eletricista, foi fácil fazer o gato para levar energia para lá. Mas também puxou a água encanada da torre inaugurada em 1942, com a presença do então presidente Getúlio Vargas. Na calçada de um metro entre o paredão e o guard-rail, tem até uma mangueira para que os outros ambulantes bebam dali e se lavem. Lá também estende um varal, onde seca roupas aproveitando as lufadas de ar dos caminhões passando rente a 60 quilômetros por hora.
Com o dinheiro das vendas, comprou um carro velho e um terreno em Francisco Morato, município da Grande São Paulo. Mas o que a água dá também pode tomar: até sete anos atrás, ele vivia na outra margem. Uma enchente invadiu seu refúgio, e ele perdeu tudo. Manoel reclama que a concorrência aumentou desde 2013, reflexo de tanto desemprego. E se queixa da pandemia, que diminuiu os engarrafamentos da marginal. Assim, deve demorar para erguer sua casa e vai continuar no térreo da torre.
Vidas canalizadas
Na zona oeste da cidade, o rio Pirajuçara desliza canalizado embaixo da avenida Eliseu de Almeida, onde José Roberto Marques, 64, anda cambaleante há cinco anos entre os carros para vender suas águas. Veste uma camiseta com o símbolo dos Panteras Negras, grupo de ativistas negros dos EUA criado em 1966. "Não sei o que significa isso. Nem quem me deu essa camiseta", confessa o senhor que trabalhou como gráfico e planeja se aposentar ano próximo.
Na mesma espera, Cássia Andrade, 60, pega o dinheiro que consegue na avenida do Estado para "umas comprinhas e pagar meu INSS". Ela dorme e come em um albergue da prefeitura, e à tarde se dedica ao comércio de água. Carioca de Jacarepaguá, Cássia trabalhou muito tempo em quiosques na orla de Praia Grande, no litoral paulista. Até que, dois anos atrás, aportou à beira do Tamanduateí.
Esse rio retificado, emparedado e poluído já foi símbolo de uma São Paulo pantanosa de brejos e várzeas, e seu percurso sinuoso original era usado para trazer os escravos que desembarcavam no Porto Geral. Atualmente, só uma ladeira com esse nome lembra vagamente esse passado, mas a "mera coincidência" de todos os vendedores de água dessa reportagem serem negros mostra que pouca coisa mudou.







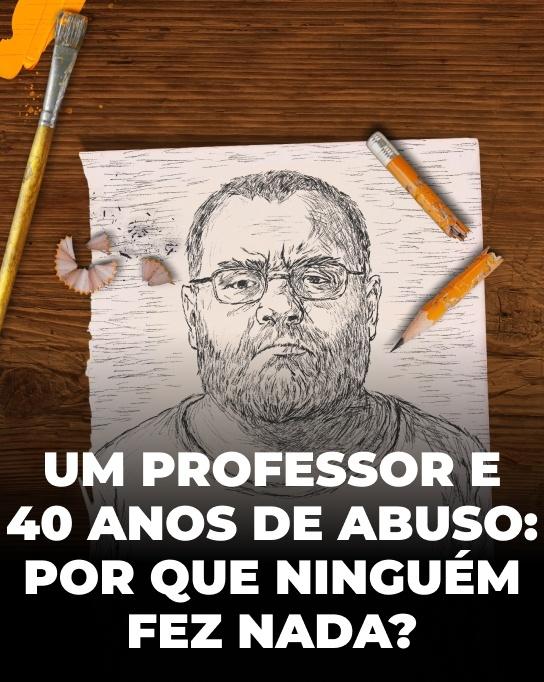











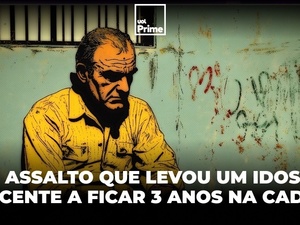

ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.