Casagrande joga na defesa de indígenas e marca recomeço para Pataxós em MG

"Sinceramente, não sei o que tá rolando. É muita emoção", comentou Walter Casagrande, em seu inconfundível sotaque paulistano.
Com o rosto pintado de urucum, calças, camisa e All Star pretos, anel prateado de caveira e óculos à la John Lennon que o protegiam do forte sol de meio-dia, o colunista do UOL e centroavante histórico do Corinthians assistia impressionado ao ritual musical dos indígenas Maxakali, Xucuru Kariri, Tikuna, Krenak, Kambiwá, Yawanawa, Tapajó e Xakriabá, vindos de diversos recantos do Brasil.
Eles estavam reunidos na aldeia Katurãma, em São Joaquim de Bicas, a 50 km de Belo Horizonte, para celebrar um dia histórico: a entrega dos documentos que concediam a posse definitiva daquele terreno aos povos Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, que, com seus tambores, taquaras e maracás, também participavam da cerimônia.
Aproveitando a data, Casagrande realizava ali o ato "Sem demarcação não tem jogo", com o coletivo de mesmo nome, em parceria com a liderança indígena Célia Xakriabá e um grupo de personalidades engajadas em causas socioambientais. A ideia é chamar atenção para a urgência de se retomar o ritmo de demarcação das terras indígenas no Brasil, que caiu vertiginosamente desde o início do governo Bolsonaro (PL).
Após demarcar com cal um campo de futebol — unidade de medida preferida da mídia na mensuração das áreas desmatadas das florestas brasileiras —, tarefa na qual contou com o auxílio dos atores Thiago Lacerda, Maria Ribeiro e de crianças da aldeia, Casagrande deu início ao evento, que teria almoço com peixe assado na folha de bananeira, apresentações musicais e jogos organizados entre os indígenas. O pontapé foi dos futebolistas mirins, seguido das partidas dos adolescentes e das competidoras femininas.
Ampliar a visibilidade das causas indígenas era uma vontade antiga de Casagrande. Em 2019, ele conheceu Célia Xakirabá, e os dois planejavam organizar uma partida de futebol que chamasse a atenção para a demarcação de terras. Com a pandemia, tudo teve de ser adiado, mas as reuniões com as lideranças prosseguiram de modo virtual.
O estilo frenético do comentarista esportivo teve de ser ajustado para que ele entrasse em sintonia com o tempo dos indígenas. A ansiedade de definir data e local foi pouco a pouco amainando, até o momento em que Sônia Guajajara lhe disse: "Casagrande, você já tem o ritmo do raciocínio igual a gente". A declaração alegrou o ex-atacante da seleção brasileira. "Senti que eles tinham confiança em mim." As coisas então fluíram, e a aldeia Katurãma — que significa "boa sorte" em pataxó — surgiu como a escolha natural para o evento.
Longa jornada Minas adentro
Parte da história da aldeia Katurãma, lembra-se a cacica Ãngoho, 53, começou no sul da Bahia, às margens do rio Paraguaçu — a outra parte veio num barco que partiu do Japão.
Os Pataxós e os Pataxós Hã Hã Hãe vivem sobretudo do artesanato de madeira e miçangas. Como no território baiano residem mais de 5 mil famílias dessas denominações, a concorrência nas vendas é grande, e só é rentável na temporada turística. Por isso, e em função dos períodos alternados de rigorosa seca e tempestades, em 2011 o grupo de Ãngoho e seu marido saiu da Bahia para expor em uma feira nacional em Belo Horizonte, onde resolveram ficar.
Logo a vida tornou-se um pesadelo para os 20 indígenas recém-chegados a Minas. Terminada a feira, começaram a vender artesanato na praça Sete, no centro da cidade. Porém suas mercadorias foram apreendidas repetidas vezes pela guarda municipal, e, sem recursos, tiveram de enfrentar as ruas.
"Nos chamavam de índios falsos, e ninguém aceitava alugar um barracão pra gente. Quando entrávamos num mercado, éramos seguidos pelos seguranças. Foi uma luta de resistência do nosso grupo", conta a cacica.
Sem condições para retornar à Bahia, foram acolhidos por um casal no bairro Jardim Vitória, na periferia de BH. Inadaptados à selva de pedra, começaram a pesquisar áreas de proteção ambiental nas proximidades de mineradoras.
"Essas pessoas não estavam cuidando das reservas como deveriam. Daí, em 2017, fomos morar na margem do rio Paraopeba, em Brumadinho", diz Ãngoho. O local era uma Reserva Particular de Patrimônio Natural, e estava a poucos quilômetros da barragem de Córrego do Feijão, da mineradora Vale.
"Tínhamos tudo: peixes, hortas, nossas plantas medicinais. Havíamos encontrado o que tanto almejávamos, um lugar para continuar a história do nosso povo. Aí veio o dia 25 de janeiro de 2019." Nesse dia, a barragem da Vale rompeu, matando 270 pessoas, e a hecatombe chegou até a aldeia.
Os indígenas correram para um morro e, de lá, observaram o mar de lama varrer as casas. "Escutávamos os gritos das pessoas. Era um cenário de guerra", lembra-se a cacica, emocionada.
Retornaram para o dia a dia difícil em BH. Um ano depois veio a epidemia, e, como a Funai considerou que eles não estavam aldeados, não tiveram prioridade na vacinação. Vários membros adoeceram. Ãngoho e os seus decidiram que era a hora de voltar para a mata.
No início de 2021, a cacica soube de uma área de proteção ambiental que sofria assédio de grileiros em São Joaquim de Bicas. Foi atrás dos proprietários, a Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira, com uma proposta: os indígenas receberiam uma concessão de uso, defendendo a área dos invasores.
Antonio Hoyama, 72, um dos diretores da associação, é filho de japoneses que em 1934 aportaram no Brasil. Seus pais foram viver no interior de São Paulo, e anos depois ele, já adulto, mudou-se para Minas. Foi Hoyama quem levou a ideia dos indígenas aos associados, que responderam com uma contraproposta: em vez da concessão, as terras seriam doadas à aldeia.
Feito o acerto, os indígenas se mudaram para o terreno, e depois de vários mutirões de construção ergueram casas, uma cozinha e uma escola bilíngue para as crianças — que são alfabetizadas em português e em pataxó.
Antes de a bola rolar no campo recém-demarcado, Rogério Nakamura, 44, vice-presidente da Associação Nipo-Brasileira, discursou aos presentes: "O que desejamos é que vocês vivam a sua cultura, a sua religiosidade, com dignidade e segurança nessa terra."
O grande encontro
Confessadamente "chorona", a cacica se emocionou em diversos momentos, e um deles foi quando encontrou o seu ídolo Thiago Lacerda, de quem é fã desde a novela "Terra Nostra", exibida pela TV Globo no ano 2000. Havia dúvidas se o ator conseguiria chegar à aldeia, pois o evento não conseguira apoio para as passagens aéreas. Por fim, ele e Maria Ribeiro resolveram pegar a estrada de carro. "Aonde o Casão me chamar, eu vou", disse a atriz.
Quando chegaram, Ãngoho deu um forte abraço no galã, agradecendo-o pela visita. "Ganhei um abraço inesquecível. Que energia, hein, meu irmão?", afirmou o ator ao TAB.
Depois de refletir bastante, Casagrande encontrou palavras para definir a sua experiência junto aos indígenas. "Talvez seja o dia mais incrível da minha vida. Nada comparável a tudo o que já passei de bom e de ruim. Também tive uma luta difícil por contra das drogas — tive que demarcar a minha terra, né? Volto para casa mais forte, com muito conhecimento interno e uma paz espiritual gigantesca."
























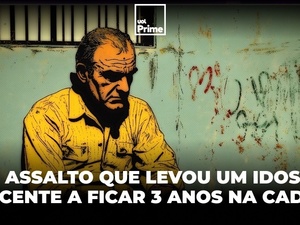

ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.