Contando os segundos: como a pandemia afetou quem espera por um transplante

A placa na porta avisa. Essa é uma das salas de hemodiálise do Hospital do Rim, o que mais realiza transplantes do órgão no mundo. Nela há seis leitos, três de cada lado. Lourival de Jesus Santos, 51 — chamado de "príncipe" pela enfermeira chefe do turno da manhã, está à esquerda de quem entra, no canto direito, debaixo de uma das grandes janelas por onde passa a luz cinzenta de uma segunda-feira chuvosa, atravessando a cortina.
Como os demais, ele está conectado à máquina de hemodiálise, encarregada de filtrar sangue — coisa que seus rins não dão conta de fazer. O cateter inserido em sua veia femoral direita só será retirado daqui a quatro horas.
Não há o menor sinal de incômodo no rosto de Lourival, que já se habituou a frequentar essa sala. É uma rotina que ele repete três vezes por semana há 12 anos. O motorista corta o silêncio do ambiente contando sua saga para ter rins que funcionem novamente: em 2009, passou a ter fortes dores de cabeça. Um dia, sentiu falta de ar durante o banho e ficou preocupado. Ali foi o começo de suas andanças a hospitais e postos de saúde. Em uma delas, fez um raio-X dos pulmões. Descobriu que seu coração estava inchado e foi encaminhado para um nefrologista.
Outro dia, saiu de casa, no bairro de Pirituba, rumo ao Hospital Central Sorocabana. Chegando lá, levou um susto. Estava com a pressão 28 X 18. O choque maior veio em seguida, com o resultado da ultrassonografia abdominal. "Os meus dois rins atrofiaram. E colocaram um cateter em mim para fazer hemodiálise. Eu não sabia o que era hemodiálise. Foi um negócio bem triste", lembra. Dez meses depois, estava na mesa de cirurgia para fazer o transplante.
Não demorou porque um irmão de Lourival tinha rins compatíveis com os dele. Recuperado, voltou a trabalhar e levar uma vida normal.
Cinco anos depois, durante exames de rotina, descobriu a rejeição do rim transplantado. "Eu estava cuidando bem do meu rim. Aí a creatinina foi aumentando e o médico receitou um remédio de alto custo. Pediu para o Estado, e o Estado negou. Quando liberou, eu já tinha perdido o rim", conta. E acrescenta. "Foi uma falha do Estado, eu acho". Entrou na fila de espera pelo órgão e, depois de um ano e meio, fez o segundo transplante. Só não esperava a notícia que recebeu em setembro do ano passado. Parecia um filme repetido. Mais uma vez, ele estava com insuficiência renal. Então, voltou para essa sala.
Ainda não se sabe se Lourival fará o terceiro transplante ou se continuará nas sessões de hemodiálise, já que a consulta foi adiada por conta da pandemia. E essa não é sua única preocupação. Apesar de ter casa própria, perdeu o direito ao auxílio-doença e o salário da esposa não dá para as despesas. Como o filho está privado de liberdade, cabe ao casal cuidar da neta de 3 anos. Tenta conseguir o LOAS, benefício destinado a pessoas pobres. Enquanto isso, se vira com o auxílio emergencial e uma cesta básica que recebe por mês do Hospital do Rim.
Para aguentar a ansiedade de saber a decisão do médico, Lourival ocupa a mente pensando em Eloá. "Amo a minha netinha. É ela quem está me dando força agora. Quando fui transplantado, ela nasceu. Um presente que tive na vida". Ele coloca as mãos atrás da cabeça, como se quisesse se levantar do leito, e confessa um desejo. "Meu sonho é ganhar na loteria. Quero dar uma vida melhor para a minha neta, para minha família, sabe? Eu jogo direto e tenho certeza de que um dia vou ganhar. Assim eu vou embora, mas deixo coisas boas para eles". Caso faça o terceiro transplante, pretende colocar mais um sonho na fila: voltar a trabalhar.
Corrida contra o tempo
No prédio ao lado, Maria Lúcia de Siqueira Silva, 53, está sentada em uma das cadeiras alaranjadas da sala praticamente vazia, onde aguarda ser chamada pelo cardiologista. Ainda faltam duas horas para a consulta. Mas isso a dona de casa tira de letra. Em matéria de espera, ela é especialista — não tem feito outra coisa nos últimos 13 anos, desde que fez uma cirurgia no coração às pressas, para desentupir uma artéria.
Faz tanto tempo que ela nem se lembra mais o nome da doença. Mas da consequência é obrigada a lembrar, pois está ali como um fantasma.
Maria Lúcia revela o nome do fantasma: insuficiência renal. "Seus rins estão indo à falência. Procure um médico nefrologista o mais rápido possível", ouviu do médico na ocasião. Ela tinha 40 anos. Trabalhou muito tempo na roça, criando gado, e ainda tinha energia para outros serviços pesados no sítio da família, em Lorena, interior de São Paulo. Já estava morando na cidade quando o coração lhe pregou essa peça. O coração até que ficou bom depois da cirurgia, mas seus rins passaram a funcionar com apenas 30% da capacidade.
Então começou a longa jornada do tratamento. Ela faz hemodiálise no Hospital Regional de Taubaté e vem ao Hospital do Rim passar em consultas quase mensais, a bordo de um carro da prefeitura de Lorena. Dois anos atrás, a médica de Maria Lúcia achou melhor ela fazer hemodiálise em casa. Durante a cirurgia para colocar o cateter no peritônio, um pedaço do intestino dela foi perfurado. Ficou internada um mês com uma grave infecção, entre a vida e a morte. Sobreviveu, mas seus rins foram comprometidos de vez.
A demora de mais de uma década para fazer o transplante não se deve à falta de doadores compatíveis. Já apareceram três. O problema são os 86 quilos que a dona de casa pesa. "Eles ligavam e, por causa do meu peso, não dava certo. Tinha que emagrecer um pouco", recorda. Ela, que tem hipertensão arterial, precisa emagrecer pelo menos seis quilos para que seja possível fazer o transplante. Desde que entrou na fila, em 2009, perdeu oito. Apesar disso, diz que não se deixa abater.
Três vezes por semana, sai de casa três horas da manhã para fazer hemodiálise em Taubaté. E continua cuidando da casa, fazendo serviços mais leves. Quando ouve a filha Lucy Mara, que a acompanha na entrevista, dizer que ela é forte, os olhos de Maria Lúcia inundam e ela tira os óculos para secar as lágrimas. "Eles falam para mim que sou muito forte. Sou mesmo. Passei por muita coisa na vida e estou aqui". Depois de acalmar as emoções, aponta sua pior companheira nesses anos todos: a ansiedade.
Basta o telefone tocar e a ligação ser de São Paulo, que Maria Lúcia olha para o marido e sai correndo para atender, com o coração aos pulos. "Será que chegou a minha vez?", se pergunta. Em seguida, vem a decepção. Mas a dona de casa trata de retomar o otimismo e a fé. "Estou confiante em Deus. Se Deus quiser, eu consigo". Ela espera, animada, chegar a hora da consulta para receber uma boa notícia.
Situação agravada pelo novo coronavírus
Lourival e Maria Lúcia têm sorte, pois estão num hospital que não teve a rotina afetada pela pandemia. Aqui foram feitos 975 transplantes de rins só no ano passado. Ao contrário de outras pessoas Brasil afora, forçadas a adiar a felicidade de conseguir o órgão ou tecido que precisam porque os leitos de UTI estão apinhados de pacientes com covid-19.
Sentado em volta da mesa oval do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital do Rim, o nefrologista José Osmar Medina Pestana, diretor do hospital e conselheiro da ABTO (Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos), fala ao TAB sobre a situação.
Só na lista de espera para transplante renal, segundo a ABTO, houve um crescimento de 4,2% no primeiro trimestre desse ano, em comparação com os três primeiros meses do ano passado. Sem falar nas mortes de pacientes que aguardavam o órgão, que subiram 40%.
A situação é grave principalmente na região Norte, onde os transplantes praticamente foram interrompidos na pandemia. Medina frisa que o motivo não é apenas a superlotação de parte dos hospitais brasileiros. "Além disso, a maior parte das pessoas com morte encefálica estão em UTIs que têm pacientes com covid também", explica. Muitas delas são contaminadas e, nesse caso, os órgãos não podem ser aproveitados.
Isso é um problema, porque a maioria dos doadores são falecidos. E os vivos, como os que doam rins ou fígado, temem ir a hospitais nesse momento. A covid-19 representa um grande perigo tanto para os pacientes que estão fazendo diálise quanto para os transplantados. "Deles, um em cada quatro infectados morrem", afirma o nefrologista.
O risco se estende às pessoas saudáveis, que depois de se contaminar com o vírus, podem perder a função renal — embora isso não aconteça com frequência. De acordo com Medina, o tempo de espera por um órgão ou tecido não aumentou na pandemia, até porque muitas pessoas morrem na fila.


















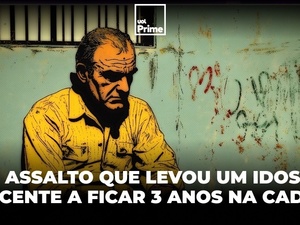

ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.