'A gente não vive, vegeta': vítimas do césio-137 relatam dor 33 anos depois

No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de sucata de Goiânia encontraram um antigo aparelho para radioterapias em uma clínica (Instituto Goiano de Radioterapia) desativada. Movidos pela curiosidade com a máquina, levaram-na para um ferro-velho, desencadeando o que jamais poderiam ter imaginado: o maior acidente com material radioativo do Brasil — e o maior do mundo fora de usinas nucleares, classificado com nível 5 na Escala Internacional de Acidentes Nucleares, que vai de 0 a 7.
Foi no ferro-velho de Devair Alves Ferreira que o equipamento foi desmontado, e uma cápsula contendo um "pó azul que brilhava no escuro", encontrada. Começava ali o rastro de contaminação que traz sequelas até hoje, 33 anos depois, para centenas de pessoas — e provocou quatro mortes poucas semanas depois. Entre elas, a de dois funcionários do ferro-velho de Devair; a de sua esposa Maria Gabriela Ferreira; e de Leide das Neves Ferreira, sua sobrinha, que na época tinha 6 anos e foi a primeira vítima, tornando-se símbolo da tragédia.
Goiânia segue com as marcas do desastre. Em fevereiro de 1988, menos de um ano depois, foi criada a Fundação Leide das Neves Ferreira, com a função específica de dar atendimento às vítimas que apresentaram contaminação com o césio-137. Até hoje, há um serviço específico para esse atendimento, atualmente prestado pelo CARA (Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves), criado após a extinção da fundação em 2011.
De acordo com a SES-GO (Secretaria de Estado da Saúde de Goiás), o CARA tem 1.253 pessoas cadastradas, divididas em grupos de acordo com a dose de exposição à radiação e a gravidade de cada um. Segundo o sistema informatizado de acompanhamento da instituição, implantado em 2003, deste ano a 2020 o centro realizou 23.642 atendimentos.
'Ninguém pensou que podia acontecer uma coisa ruim'
Mais ainda do que os dados do CARA podem mostrar, a dor de quem sobreviveu a uma catástrofe desta magnitude vai além dos efeitos físicos da radiação, como mutilações e queimaduras. "Sabe aquela música 'a gente era feliz e não sabia'? Assim era eu, era minha família antes do acidente", diz ao telefone a mãe de Leide, Lourdes das Neves Ferreira, hoje com 68 anos, esposa de Ivo, irmão de Devair, dono do ferro-velho onde tudo começou. "Mas tenho uma cabecinha de 18", diz ela, num tom simpático que logo muda ao buscar as memórias que mudaram sua família para sempre.
"Hoje eu lembro mais das coisas do que naquela época, eu fiquei muito tempo dopada, me davam muito remédio. Mas agora eu enxergo melhor a memória do acidente. O césio-137 chegou na minha casa no dia 25 de setembro. O Devair e a Maria (Gabriela) já estavam mal, doentes, ele com o cabelo caindo. Mas não sabiam o que era. Falei muito com o Ivo para ir visitar o irmão e ele foi. Lá, ele até tentou abrir a tal caixa, mas não conseguiu. Mas trouxe um pouco do pó para casa enrolado num papel de saco cimento que pôs no bolso", relembra Lourdes, que tem outros dois filhos — uma mulher que hoje tem 49 anos e um homem de 47, que teve queimaduras graves.
Apesar do medo imediato que relata ter sentido, a dona de casa também acabou se contaminando com a substância. "O Ivo foi brincar com as crianças no quarto escuro, e eles me mostravam, dizendo 'olha, tá tudo iluminado!'. Eu senti um horror logo daquela luz que ninguém sabia explicar, mas o pó se espalhou e ficava brilhando por debaixo dos móveis, nas roupas. E eu limpei com pano o que ficou pela casa, recolhi aqueles pontinhos que voaram, lavei as roupas do Ivo e das crianças, lavei a roupa de cama da Maria Gabriela que estava doente, também encostei no pó. Mas com a Leide foi pior, porque ela ingeriu", conta a mãe.
"A Leide era muito enjoada para comer. Quando ela pegou um ovo cozido naquele dia depois de brincar com aquilo, ninguém pensou que podia acontecer uma coisa ruim. Meia hora depois, ela começou a vomitar e ficou assim a noite toda. Depois, ela ficou com a boquinha roxa, era queimadura. Mas ainda estava alegre, brincando e falando nos dias seguintes".
'Acho que eu merecia um fim de vida digno'
Desde 1988, Lourdes vive em Aparecida de Goiânia (a pouco mais de 19 quilômetros da capital) em uma casa que comprou com a indenização que a família recebeu do estado. Na casa onde ela também se contaminou, quase tudo se tornou, como ela diz, "lixo de radiação".
Fotos da pequena Leide se tornaram emblemáticas da tragédia depois de circularem em toda a imprensa da época. "Quem foi com ela pro Rio para continuar o tratamento foi o Ivo. Ele se sentiu muito culpado, ficou do lado dela até o fim. Ele tinha que se cuidar, se queimou muito, mas não deixou separarem os dois. Lá que ele foi entender o que era radiação, a gente nunca tinha ouvido falar. Eu estava dopada de remédio e, quando soube, já estavam no Rio. Aí que fiquei doida, sem entender. Acabou que aconteceu o pior, a Leide e a Maria (Gabriela) não se salvaram", lamenta Lourdes.
Ao falar da vida depois disso, a dona de casa traz um relato resiliente, mas dolorido. "Minha casa, aqui no portão, você chega e parece a Mata Amazônica, cheia de planta (risos). Foi meu jeito de viver melhor. Não podia acontecer o que aconteceu com a gente, mas já que aconteceu e Deus me deu a graça de viver, tenho a obrigação de ser feliz", conta ela, já com o discurso tendendo um tanto mais para a dor, a começar pela lembrança do sepultamento de Leide e Maria Gabriela, marcado por protestos, vaias e manifestações de populares que temiam a contaminação pela radiação.
"Para te falar a verdade, hoje eu me sinto abandonada. Passar por tudo que passamos, o desrespeito que tiveram no enterro da Leide, tanta perda. Muita gente da família se entregou à bebida, ao cigarro, peguei meu outro filho tentando suicídio três vezes. Acho que eu tinha direito de ter, pelo menos, um fim de vida digno. E eu não tenho. Pelejo para não ficar me lamentando, mas é direito meu. Na pandemia, o CARA não mandou mais o carro para fazer o transporte das vítimas, disseram que não tinha como higienizar o carro. Meu atendimento foi adiado e não consegui remarcar, não tenho saúde, não consigo meus remédios. A gente não vive, vegeta."
Em nota, a SES-GO informou que o CARA continua realizando os atendimentos, mas com capacidade reduzida, em razão das medidas para contenção da pandemia da Covid-19. A instituição informou, ainda, que o centro implantou o sistema de teleconsulta para monitoramento e cadastramento das pessoas atendidas.
'Tive que fechar os olhos para o preconceito'
Além das lesões que traz nas mãos por ter esfregado nelas um fragmento de césio, Odesson Alves Ferreira, hoje com 65 anos, tem a memória detalhada do dia em que se contaminou. "O contato demorou menos de um minuto, não vi nada que chamasse a atenção. Durante o dia, aquilo não tinha nem brilho. Nos dias seguintes, continuei trabalhando normalmente, até que uma enorme bolha de água foi se desenvolvendo na palma de minha mão esquerda e nos dedos indicador e polegar direitos", conta o motorista aposentado — irmão de Devair e tio de Leide. "Era uma menina muito inteligente pra sua idade, sonhava em ser modelo, seu pai a levava em todos shows e viajava muito com ela", recorda.
Odesson destaca que, apesar de terem sobrevivido, seus irmãos Devair (que tinha o ferro-velho) e Ivo (pai de Leide), foram corroídos pela culpa do acidente, passando a abusar de álcool e de cigarros. "Isso os matou". Segundo ele, Ivo chegou a fumar seis maços por dia. "Ele teve uma depressão profunda com a morte da Leide e faleceu em 2003, de enfisema pulmonar. O Devair passou a beber muito mais que antes. Segundo ele dizia, se sentia culpado pelo acidente, uma vez que toda a família tinha sido contaminada e sua esposa perdeu a vida. Ele morreu em maio de 1994. O atestado de óbito diz que foi de cirrose hepática, mas exames atestam que ele tinha câncer em três órgãos."
Segundo Odesson, além das perdas, a família até hoje lida com preconceito e passa por constrangimentos, porque as pessoas têm medo de se contaminar. "Não culpo as pessoas, pois a desinformação é muito grande. Sempre trabalhei bem isso dentro de mim. Para chegar onde cheguei, tive que tapar os ouvidos e fechar os olhos para preconceito e discriminação. Muita coisa ruim aconteceu, inclusive com mortes, mas a vida é assim. A cidade sofreu muito, foi discriminada e ficou mal vista, mas sobreviveu", diz o aposentado, acrescentando que "transformou sua dor em luta" ao batalhar pelos direitos dos radioacidentados, tendo sido presidente do Conselho Estadual de Saúde de Goiás e da Associação das Vítimas do césio-137.
'Nossa memória é curta e irresponsável'
Como esteve à frente da luta pelos direitos dos radioacidentados por tantos anos, Odesson acompanhou de perto a situação de diversos espaços que podem estar sujeitos a desastres similares — e não vê segurança. "Nossa memória é curta e irresponsável. Já vi muitos técnicos de radiologia cometerem erros gritantes. Em lugar nenhum do país vi medidas efetivas de treinamento para prevenir possíveis acidentes."
Hoje, vivendo sozinho em uma chácara em Aparecida de Goiânia, Odesson não se esquece da tragédia, mas prefere não recontar a história pelas tantas perdas que ele e a família tiveram. "O fato de eu ter encarado o problema com altivez me deu estrutura, e consegui passar por isso com muitas dores, mas sobrevivi. Ruim mesmo foi ter que parar de trabalhar no que mais me dava prazer, caminhão e estrada."
A cunhada Lourdes, mãe de Leide, hoje também avó e bisavó, confessa também nunca mais ter encontrado algo que perdeu depois do episódio, a despeito de seu esforço. "Todo dia é uma luta. Tenho tentado muito, mas não fui feliz de novo."





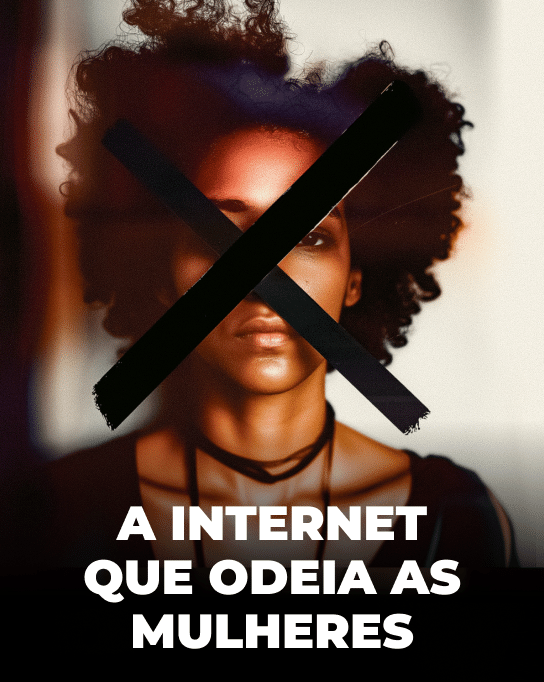














ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.