Um ano em mil: o cansaço de quem virou intensivista durante a pandemia

Maria* se sente mais cansada e agoniada do que nunca. Para ela, o filme parece não ter fim. A paulistana de 37 anos estava em seu segundo ano de residência em clínica médica na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) quando a pandemia começou. Ela e seus colegas foram deslocados para atuar nos casos de covid-19 no Hospital São Paulo.
Preocupada em ganhar prática e em ter condições financeiras de se manter na capital paulista, fez plantões fora da residência. Treinou em semi-UTIs e UTIs.
Ela foi se sentindo segura porque tinha por perto colegas conhecidos e profissionais mais experientes, mas isso não bastava. "Até hoje fico bem estressada quando vou realizar plantão, porque sou bem recém-formada. Ainda tenho pouca experiência na atuação como médica, principalmente como intensivista. E essa é uma realidade para muitos colegas."
Mão de obra escassa
Falta médico intensivista de norte a sul do país. Apenas 1,6% dos médicos registrados no país, de um total de 500 mil, têm a titulação de intensivista. Em números exatos, isso corresponde a 8.239 profissionais.
Para a Amib (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), o número é pequeno demais — o ideal seria o país ter uma quantidade cinco vezes maior. E essa escassez não é de agora.
Para se formar intensivista, o médico faz quatro anos de residência. Na urgência pandêmica, o Ministério da Saúde convocou profissionais que davam expediente em clínicas e consultórios, de várias especialidades. Deslocados para trabalhar em hospitais de campanha ou UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), formavam equipes com alunos de medicina graduados por antecipação, também em caráter emergencial. Inexperientes, muitos foram colocados para atender pacientes graves em enfermarias e UTIs.
Como a demanda é grande, muitos se apresentavam para fazer plantões apresentando apenas o CRM. Bastava ir a uma unidade de saúde (hospital de campanha, UPA etc) e conversar com o médico responsável pelo plantão do lugar. As vagas circulam de maneira muito informal: grupos de WhatsApp, indicação de colegas, amigos, redes sociais.
Maria viu absurdos. Durante seu turno, às vezes precisa corrigir graves erros alheios. "Eu chegava para assumir um plantão e tinha de arrumar coisas básicas que não foram feitas pelos colegas. Por exemplo: um distúrbio eletrolítico que não foi corrigido, paciente com distúrbio grave que precisava ser dialisado. Não sou a pessoa mais experiente, nem fiz medicina intensiva. Nem no âmbito da clínica médica aqueles profissionais sabiam atuar", conta. Nesse recorte, o Brasil que "troca o pneu com o carro andando" fica evidente. A carência e a urgência têm um custo.
Sensação de desânimo
Direto de Macapá, Lidyane Nunes Pantoja, 35, se entristece toda vez que precisa convencer o paciente a passar por uma intubação. "Sinto que estou mentindo para a pessoa, mas preciso passar um sinal de esperança para que ela possa colaborar. As chances de a pessoa sair do tubo são muito pequenas. Fico me perguntando: 'Deus, vou conseguir falar a mesma coisa para todo mundo?'"
Recém-formada pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública de Salvador, teve formatura antecipada em um mês por causa da pandemia. Ela se inscreveu e enviou documentação quando houve um chamamento público pelo estado do Amapá, publicado no site do governo estadual. Foi chamada na primeira semana de maio. Dias depois, seu nome constava no Diário Oficial do estado. Já na Bahia, ela conta que existiam vagas nos hospitais de campanha e quem contratava os médicos era uma empresa privada, terceirizada pelo estado. Ali, os médicos recebem como pessoa jurídica — Lydiane teve de "abrir uma empresa". A "pejotização" é tendência na área médica.
Trabalhando em UTIs de covid-19 desde setembro de 2020, ela conta que no início procurava tirar plantões na mesma escala dos profissionais mais experientes. Mas nem sempre era possível. Quando não tinha um colega de turno por perto para sanar uma dúvida, pesquisava protocolos médicos na internet e em aplicativos. Não para de estudar.
Arrumou de fazer um curso em Medicina de Emergência pela internet, porque tem de manejar pacientes em situação grave. "Era uma coisa que nem imaginava fazer. A vida foi tomando esses rumos que eu nem planejava."
Formado em dezembro de 2019, Aluísio*, 30, estava em dúvida entre fazer residência em clínica médica ou cirurgia geral. Mudou de ideia com a covid-19: quer uma especialização mais "tranquila". "É muito desumana a rotina de trabalho de um intensivista. Viver só de plantões é bem desgastante", lamenta, ao sinalizar que faltam especialistas na área.
O homem negro e de voz serena trabalhou em UPAs, UBs e hospitais de campanha da região metropolitana de Belo Horizonte. Cauteloso, endossa que é preciso tirar o peso de heróis dos ombros dos médicos. "Nós não somos deuses, somos apenas humanos."
Diante da carência de profissionais mais experientes, o erro médico acaba sendo inevitável. Essa é a constatação de Aluísio. Ele acredita que haverá aumento no número de processos contra médicos.
Indagado sobre como se sente atualmente, responde. "Naquilo que faço, eu me sinto preparado para fazer. Existem coisas mais complexas que eu ainda não me sinto preparado para realizá-las."
Sem alternativa
Desde junho do ano passado, Záyron Gregório Aguiar, 27, vive na ponte área entre Pará e Amapá. São 15 dias em Belém e outros 15 divididos entre o Macapá e o município de Pracuúba, a 275 km da capital amapaense. Em ambas capitais, atua em hospitais de campanha.
Desde o momento em que o Brasil começou a registrar 3 mil óbitos diários, Záyron teme pela própria vida. Abriu mão de fazer mais plantões por medo por ser asmático. "Estamos vendo pacientes que estão bem terem complicações de uma hora para outra."
Záyron é maranhense e cursou medicina em Belém. A formatura, que seria em julho de 2020, foi antecipada para abril. Ele conta que não tinha interesse inicial em trabalhar em casos de covid-19, por ser do grupo de risco. Mas chegou um momento em que isso não era mais uma opção.
Decidiu se arriscar de pouco em pouco, apesar da comorbidade. "Eu me via podendo ajudar e entendia a necessidade. Tal como ele, os demais recém-formados que também temiam a doença viram que não tinham alternativa — era preciso somar esforços.
Com o tempo e pela necessidade, Záyron narra que ele e os colegas, todos inexperientes, foram assumindo casos graves. Ainda não há profissionais suficientes. Houve ainda atraso no pagamento por parte do governo do Pará. "Atrasou cerca de quatro meses. Depois de muita briga, foi regularizado."
Disse que procura conversar com profissionais mais experientes para sanar alguma dúvida e que existe muita colaboração nos grupos de WhatsApp entre médicos que atuam em hospitais de campanha. "A gente sempre se ajuda, porque é uma guerra, né?". Como toda guerra, sem data para acabar.
*nomes trocados





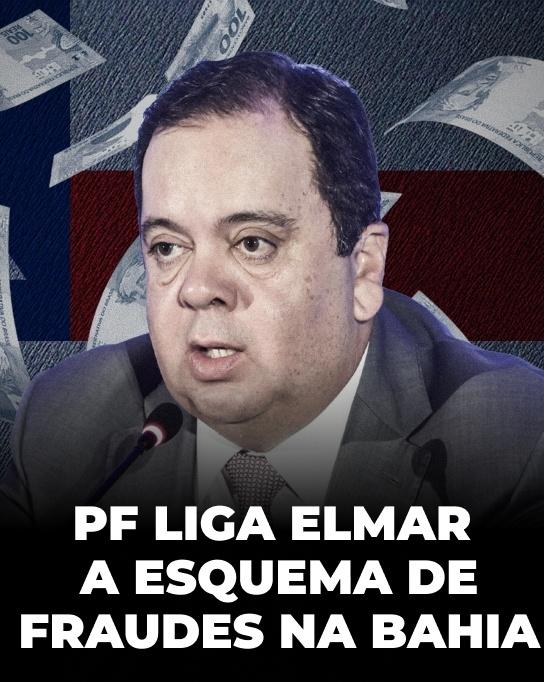













ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.