Como a cultura pop abraçou tramas policiais e evidenciou preconceitos

A popularidade que o gênero true crime (histórias sobre crimes reais) ganhou na última década é um fenômeno inusitado da cultura pop. Produções que retratam casos de crimes reais não são um formato novo — que o digam aqueles que ficavam acordados até tarde, no começo dos anos 2000, assistindo a programas como "Linha Direta", na Globo, ou "C.S.I.: Investigação Criminal". Por outro lado, nunca houve nada parecido com a alta qualidade que se vê hoje em dia.
Foi a quarentena de 2020 que nos apresentou Joe Exotic de "Tiger King", o excêntrico dono de um zoológico em Oklahoma, nos EUA, preso por ter encomendado o assassinato da ativista Carole Baskin. Mas um dos primeiros a renovar esse gênero foi "Making a Murderer" (2015), a história de Steven Avery e Brendan Dassey, presos em 2007 pela morte de uma mulher que, desde então, tentam se provar inocentes. As duas séries documentais estão disponíveis na Netflix.
O sucesso dessa retomada e a multiplicação de documentários, livros e podcasts com essa temática reafirmam uma velha teoria: todo mundo tem um certo fascínio sobre histórias que violam a ordem moral. Uma das teorias mais legítimas é a de que o crime faz parte da nossa vida, conforme afirma Maurício Dieter, professor de Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo).
"Você não consegue explicar questões existenciais hoje sem passar pelo crime: onde você mora, a que horas você sai de casa, o que você vai levar na bolsa, no bolso, como você se veste", diz Dieter ao TAB. "O crime assumiu uma centralidade na nossa vida moderna. E isso vem pelo adensamento urbano, pela concentração da desigualdade, pelo investimento maciço em segurança pública, pela prevalência do pânico moral."
O gênero true crime existe em função de casos reais de violência, e sua essência é expor detalhes de crimes e investigações. O formato segue uma estrutura de jornalismo investigativo, com depoimentos dos envolvidos, gravações de audiências, câmeras de segurança, áudios de telefonemas. Geralmente tudo muito amador, afinal, é a vida real não produzida.
Os principais serviços de streaming oferecem dezenas de títulos policiais verdadeiros e de ótima qualidade em seus catálogos: "Conversando Com um Serial Killer: Ted Bundy" (Netflix), "Amanda Knox" (Netflix), "Eu Te Amo, Agora Morra" (HBO), "The Staircase" (Netflix), "Mamãe Morta e Querida" (HBO), "The Witness" (Amazon Prime). Todos eles revisitam casos de assassinato não resolvidos ou contestados, e desafiam condenações potencialmente injustas.
Estes programas têm contribuído para o debate sobre o papel que fatores como raça, classe social, privilégio e, algumas vezes, simples má sorte podem desempenhar em situações onde há julgamento. E, em algumas circunstâncias, expõem tantas falhas do sistema judiciário que o caso é reaberto. Foi o que aconteceu depois que o magnata norte-americano Robert Durst assumiu ter cometido assassinatos durante a gravação da minissérie "The Jinx", da HBO.
Um outro aspecto que essas produções têm em comum é como grande parte do gênero true crime acaba por se concentrar em histórias de pessoas brancas, sejam elas vítimas ou assassinos. E essa exploração cosmética é um reflexo de como essas narrativas começaram a ser tratadas lá atrás.
A origem do true crime moderno
Relatos de crimes verdadeiros existem há séculos. Histórias sobre assassinatos e outros tipos de violência reais começaram a ser impressos por volta de 1550 na literatura britânica. Nos Estados Unidos, essa narrativa começou na revista policial "National Police Gazette", fundada em 1845.
Mas o true crime americano moderno, que expandiu o gênero como conhecemos hoje, fez sua inauguração na popular revista "True Detective", lançada em 1924. Seu auge foi na década de 1950, quando passou a explorar casos de violência sexual. As capas eram ilustrações de mulheres no estilo femme fatale, que muitas vezes não correspondiam à realidade, em uma tentativa de super dramatizar os casos.
Grande parte das histórias de crime era entregue aos jornalistas pela própria delegacia. A motivação era fazer com que a comunidade entendesse o universo em torno de um assassinato e, mais importante, que ficasse do lado da polícia. Esses oficiais eram, em sua maioria, brancos: em 1943, por exemplo, menos de 1% dos agentes do Departamento de Polícia de Nova York eram negros, conforme narra Arthur Browne no livro "One Righteous Man: Samuel Battle and the Shattering of the Color Line in New York" (2015).
Os repórteres para os quais os policiais vazavam aquelas histórias também eram geralmente brancos. A falta de jornalistas negros nos jornais foi tema de um dos relatórios da Comissão Consultiva Nacional sobre Desordens Civis, conhecida como Comissão Kerner, em 1968. "A mídia deve publicar jornais e produzir programas que reconheçam a existência e as atividades dos negros como um grupo dentro da comunidade. Recrute mais negros para o jornalismo e radiodifusão, e promova aqueles que são qualificados para posições de responsabilidade significativa", diz o documento.
O jornalista David Krajicek, que comandou a seção policial do "New York Daily News" de 1987 a 1992, conta em seu livro "Murder, American Style" (2010) que havia uma pré-condição informal nos bastidores do jornal: para virar notícia, um crime deveria ter uma mulher branca e atraente morta de uma forma horrível em um lugar interessante. Assassinatos sem esses elementos não eram cobertos. Simples assim.
Os traços desse comportamento é um legado presente até hoje. Talvez por isso o caso de Samuel Little, que confessou ter matado mais de 90 pessoas nos Estados Unidos entre 1970 e 2005, permaneça relativamente desconhecido do grande público. Apesar de as histórias em torno do serial killer serem extremamente ricas em termos de conteúdo, as vítimas dele eram, em grande parte, mulheres negras.
A realidade social brasileira
Os casos mais populares no Brasil, seja pela vítima (como Isabella Nardoni) ou pelo criminoso (como Suzane von Richthofen), refletem comportamento semelhante: as histórias que todo mundo conhece envolvem geralmente pessoas brancas e, muitas vezes, de classe média. Mas segundo o informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2019, é a população negra que tem 2,7 mais chances de ser vítima de assassinato do que os brancos.
"A gente tem uma visão errada de que só crime de classe média é investigado", diz Beto Ribeiro, diretor da série brasileira "Investigação Criminal", que já está na 9ª temporada. "Depois de produzir os temas mais populares, a gente começou a descobrir casos super bem investigados que nunca foram para a mídia. E das 90 histórias que já cobrimos no programa, 60 são de gente muito pobre."
Para ele, casos como de Nardoni chamam tanta atenção porque "batem de frente com a classe média do Brasil. Se fosse uma criança negra na favela, não ia ter toda essa repercussão". "No Brasil, às vezes o mais importante é se você é pobre ou rico do que se é branco ou preto. Se o negro é famoso, o racista brasileiro até gosta dele, porque o que importa aqui é a classe social."
"A verdade é que os pobres não são notícia", diz a jornalista Luiza Lusvarghi, autora do livro "O Crime como Gênero na Ficção Audiovisual da América Latina". "Você tem a questão racial e social. E, especialmente no Brasil, os negros não integram massivamente a chamada elite, então não há notícias que os envolvam. Se você não tem uma população negra rica, fatalmente ela não vai chamar atenção". Segundo o IBGE, negros são 75% entre os mais pobres, e brancos, 70% entre os mais ricos.
Distorção do que é real
Há diversas produções estrangeiras sobre histórias de crimes verdadeiros contadas por e sobre pessoas não brancas. Mas, embora sejam bem recebidos, não se tornam pesos-pesados como "Tiger King" ou "Making a Murderer". A atriz Viola Davis estreou em 2018 "The Last Defense", uma série que investiga acusações contra um grupo multirracial de pessoas encarceradas. O podcast "Atlanta Monster", de Payne Lindsay, lançou luz sobre um serial killer de homens e meninos negros na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e que deu origem à série da HBO "Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children".
Segundo a professora e escritora norte-americana Jane Murley, autora do livro "The Rise of True Crime" (2008), a falta de diversidade no true crime mainstream distorce a percepção popular do que realmente constitui um crime e quem são, de fato, os seus atores. "Essa ideia tem consequências graves em relação às nossas políticas públicas, em termos de resultados da justiça criminal e no fato de ignorarmos o homicídio que mais acontece no dia a dia."
Murley lembra que crimes e assassinatos são cometidos por pessoas de todas as etnias, classes, sexos e idades, e que as vítimas nem sempre são bonitas, brancas ou jovens e também merecem justiça. "Mas para se ter mais livros, documentários e podcasts sobre pessoas não brancas, as vítimas não brancas devem ser vistas como pessoas."
















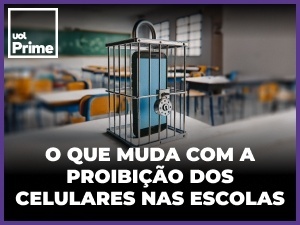


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.