Comer sem prato e nada de leite: o que propõe a decolonização alimentar

Imagine acordar certa manhã e não poder tomar um cafezinho ou comer um pão com manteiga. No almoço, não encontrar o arroz para preparar a tradicional dupla com o feijão. Ou ainda, durante o café da tarde, ser privado de um queijo minas ou de uma cesta de pães de queijo porque, veja só, não existe leite.
Foi esse o exercício de imaginação proposto pela cozinheira e health coach Larissa Colombo, numa sequência de imagens publicadas em agosto em suas redes sociais. A peça, que defendia o conceito de decolonização da alimentação, gerou uma pequena controvérsia entre os usuários ao questionar o consumo desses alimentos, que têm origem estrangeira.
O café, por exemplo, veio da Etiópia, o trigo do Oriente Médio, o leite da Europa e o arroz da Ásia. Até o uso do prato foi questionado na postagem, por ter sido introduzido no Brasil por colonizadores.
Houve quem tachasse a proposta de "terraplanismo da história da gastronomia". "Essa galera que não toma banho me inventa cada coisa", escreveu uma usuária ao repercutir o post no Twitter. Já uma estudante de nutrição considerou válida a proposta se a intenção for refletir sobre a história do que consumimos — e não deixar de comer tudo que venha de fora.
Apesar das manifestações de incredulidade, a ideia de decolonizar a alimentação brasileira é levada a sério por pesquisadores, cozinheiros e sociólogos. Seu significado, porém, tem interpretações diversas. Uma das personalidades hoje na linha de frente dessa luta é a cozinheira, realizadora cultural e pensadora indígena Tainá Marajoara.
"Quando a gente fala em decolonizar a alimentação, não é só tirar o francês da mesa brasileira nem reclamar com o europeu por estar há 520 anos aqui", diz ao TAB a paraense de 37 anos. "É entender que o pensamento do brasileiro precisa mudar, porque está completamente subjugado".
Marajoara integra o Instituto Iacitatá Amazônia Viva, em Belém (PA), onde serve refeições usando ingredientes e preparos tradicionais dos povos indígenas da região. No cardápio, estão pratos como a kanhapyra, um peixe cozido no caldo de tucumã e pimenta, e o caldote, mistura de tucupi, jambu e ervas amazônicas.
Um dos principais cuidados no estabelecimento é não incluir ingredientes industrializados ou cultivados com agrotóxicos, evitando, segundo ela, contribuir com um sistema colonizador que destrói a terra, precariza o trabalho, concentra a renda e leva povos indígenas à morte.
O que é, o que é?
Embora parta de um mesmo princípio, o conceito de decolonização passa por interpretações e olhares diferenciados. "Não se anda para trás", sentencia o sociólogo Carlos Alberto Dória, autor de livros sobre a formação da culinária brasileira, em conversa com o TAB. Com a frase, ele se refere à ideia de abandonar hábitos como o consumo do leite ou o uso do prato — costumes estabelecidos no mundo inteiro devido à globalização. Por outro lado, ele diz que retomar ingredientes usados num período pré-colonial é possível, mesmo que numa roupagem moderna. Já recuperar métodos de preparo dos povos originários seria tarefa mais complicada.
"As técnicas indígenas ainda precisam ser levantadas. Onde tem um livro sobre isso? Existem remanescentes de vários povos indígenas que usam técnicas diferentes entre si", considera.
O coordenador da pós-graduação em gastronomia do Senac de Campos do Jordão, Ricardo Barbosa, também rejeita a ideia de um retorno à alimentação pré-colonial.
"A decolonização é válida se pensar no colonialismo como uma relação de poder. Assim, valorizar produtos locais e ingredientes brasileiros seria uma forma de lutar contra esse processo", afirma.
Para Marajoara, decolonizar o que comemos é quebrar a ideia de que o que vem de fora é evoluído — raciocínio que teria ajudado a tornar invisível a cozinha e aniquilar a cultura dos povos originários. Assim, o uso de ingredientes e a releitura de pratos que existiam por aqui "antes mesmo de o Brasil se chamar Brasil", praticada hoje por chefs renomados, seria uma forma de vesti-los à moda estrangeira para que sejam, finalmente, aceitos como civilizados.
"Quando se fala em releitura, fica claro que a cozinha tradicional é vista como primitiva. Então ela precisa passar por uma estética europeia, estilo Le Cordon Bleu, para que possa chegar à mesa", declara a cozinheira.
Dória lembra que até a ideia de usar ingredientes locais na alta gastronomia partiu de chefs europeus e só depois chegou aqui. Por isso, e porque os preparos continuam tendo como base a cozinha francesa, o sociólogo avalia que a prática nada tem de decolonizadora.
Além de valorizar ingredientes e preparos tradicionais, decolonizar para Marajoara é lutar contra o que considera um sistema de colonização contemporâneo: a agricultura predatória e destrutiva. Nesse caso, implantar a agroecologia e o uso de tecnologias verdes seria uma "utopia realizável".
"Apesar de o processo oficial de colonização ter acabado, seu impacto permanece na forma como agimos e pensamos", explica Rafael Guimarães, professor de psicologia da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia) e pesquisador de perspectivas de decolonização. Segundo ele, decolonizar não significa reverter um processo e uma série de influências que se desenvolveram por aqui ao longo de séculos — o que seria impraticável —, mas refletir sobre eles para que não nos transformemos num espelho de tudo que vem de fora.
"Em alguns estados do Norte, as pessoas deixaram de comer plantas como o cariru, rica em ferro e vitaminas, no momento em que chegaram as grandes redes de supermercados. Em vez disso, passaram a consumir alface. Isso é colonização, hábitos repetitivos que a gente aprende e passa a considerar como a única verdade", diz Guimarães.
Essa comida que não chega
Para Dória, os aspectos que dificultam o acesso a ingredientes tradicionais são a logística e a legislação sanitária extremamente restritiva que rege os produtos artesanais no país. "A proibição de vender queijo feito com leite cru, por exemplo, nos afastou por muito tempo do queijo da Serra da Canastra, tido como identitário. Essas barreiras são, sobretudo, políticas", afirma.
Marajoara culpa o modelo econômico e a política ruralista do país pelas dificuldades logísticas e os altos preços de ingredientes regionais (de alimentos feitos artesanalmente e da produção de pequenos agricultores). Segundo ela, boa parte do custo da produção de larga escala é coberto por incentivos e crédito concedidos pelo governo. "O açúcar que chega ao supermercado a três reais, na verdade, custa 18. O valor excedente é tirado da população em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança".
"Somente uma demanda maior por esses produtos levaria a cadeia logística e produtiva a facilitar o acesso a eles", ressalta Max Jaques, chef pesquisador do Instituto Brasil a Gosto. A organização trabalha pela preservação e disseminação de ingredientes e técnicas culinárias tradicionais no Brasil. Outra ação que facilitaria esse acesso seria dar preferência a ingredientes locais. "Por exemplo: em vez de buscar farinha de mandioca do Norte, quem mora em São Paulo pode procurar a que vem de um produtor local", diz Jaques. "Mas quando conversamos com donos de restaurante, o argumento logístico sempre aparece. Falam que não usam porque não chega aqui."
É irreal o quanto os chefs de cozinha se desdobram para ter uma pimenta da Patagônia, um tempero da Nova Guiné, um vinho da Europa, mas são incapazes de fazer um preparo de cambuci que floresce no quintal ao lado.
Tainá Marajoara, cozinheira e realizadora cultural
Segundo Marajoara, o colonialismo não vem só de fora. Ele existe também na relação dos estados do Norte e Nordeste com o Sudeste. Agir contra ele não seria apenas questão de preservação da cultura, mas também de sobrevivência. "Senão, a gente vai continuar vendo uma gastronomia que não se importa de saber quantos morreram para que seu patrocinador grilasse as terras", declara a cozinheira.
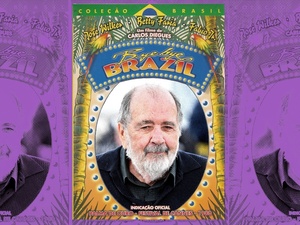




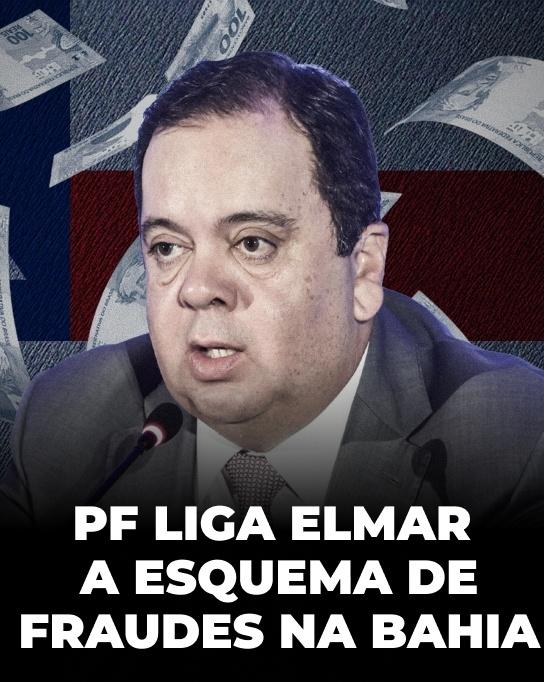









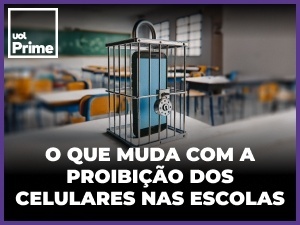


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.