Por que protestos contra o racismo nos EUA são diferentes dos brasileiros
A última semana de maio de 2020 foi marcada por protestos nas ruas dos Estados Unidos. Na imprensa e nas redes sociais, as imagens de lugares vazios, uma constante em período de distanciamento social, deram lugar a fotos de aglomerações. Manifestantes foram às ruas pedir justiça pela morte de George Floyd, um segurança de 46 anos, negro, morto na última segunda-feira (25) por um policial na cidade de Minneapolis, no estado do Minnesota.
O momento em que Floyd é algemado, jogado ao chão e asfixiado foi gravado e divulgado nas redes sociais. Pronto: estava lançado o estopim para uma série de protestos, que vêm se espalhando pelo país, durante a pandemia do novo coronavírus. A imagem de uma delegacia em chamas viralizou pela internet, e o presidente Donald Trump, no Twitter, comentou: "quando os saques começam, os tiros começam". Em resposta, pela primeira vez na história, a rede social sinalizou a postagem como violenta. Em seguida, a Guarda Nacional norte-americana foi acionada para conter novas manifestações. Na noite de sexta-feira (29), Trump recuou.
Derek Chauvin, o policial agressor, foi demitido da polícia junto com outros três agentes e depois foi preso. Ele deverá responder por crime em terceiro grau, o equivalente a homicídio culposo no Brasil (quando não há intenção de matar). A decisão inflou ainda mais o ânimo e a revolta dos norte-americanos e os protestos deverão continuar — já chegaram à Portland, na costa oeste.
O caso de Floyd não é novidade O assassinato de pessoas negras pela polícia dos EUA tem se repetido sistematicamente, a partir de uma abordagem policial de extrema violência. Foi a morte de um jovem negro, nos anos 1950, que turbinou o movimento por direitos civis e construiu lideranças importantes como Martin Luther King (também assassinado), Malcolm X (assassinado) e grupos mais organizados e militarizados, como os Panteras Negras. A morte de Trayvon Martin aos 17 anos, já em 2012, deu novo impulso ao movimento antirracista, com o lema "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam, em português). "A morte de Floyd ocorre em um momento de instabilidade. O país vive um clima de tensão", avalia Luciana Brito, professora de história da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), doutora pela USP (Universidade de São Paulo) e especialista em história da escravidão e abolição nos Estados Unidos e no Brasil.
O racismo piorou? Não. Ele só passou a ser mais divulgado. Os anos 1990 escancaram episódios de racismo nos Estados Unidos e tornaram-se parte do cotidiano da cobertura jornalística pela TV. "Essa violência começa a ser gravada e vista por um público negro muito maior do que só os que moram nas comunidades onde os casos acontecem. Isso vira a chave. O que nós estamos vendo na escalada desses últimos anos é que a violência nunca parou, ela sempre esteve presente como forma de controle e de manutenção da violência racista que o Estado põe sobre a população negra. Ela sempre existiu", explica Tulio Custódio, sociólogo e curador de conhecimento na Inesplorato.
Por que os protestos nos EUA são tão violentos? Os "riots" — quando há depredação de prédios, queima de pneus e violência nas ruas — é um formato histórico de protesto que cresceu durante o século 20. São sintoma do agravamento das tensões raciais ao longo dos anos. Importante lembrar que, com a abolição, a política escravista nos EUA foi transformada em política de segregação racial: em muitos estados norte-americanos, negros eram proibidos de estudar em determinadas escolas, a votar e a frequentar bairros tidos como brancos. "Eles sabem que, se não houver protesto, e daquela forma, ocupando a rua e com enfrentamento, pode não acontecer nada", afirma Brito. Os ataques a prédios e à delegacia de polícia são simbólicos. "Eles têm uma noção nítida do papel daqueles lugares: representam o Estado e o papel de empresas que financiam a violência vendendo armas, por exemplo", diz Luciana Brito.
Violência como direito. Segundo a professora, os Estados Unidos são uma sociedade extremamente violenta. O país garante o direito à posse de armas em sua segunda emenda. A lei, no entanto, foi escrita na época da escravidão e não considerava a população negra cidadã. "Embora seja garantido por lei, não é garantido nos costumes que uma pessoa negra ande armada por lá", diz a historiadora. A posse de armas traz uma camada de tensão extra aos conflitos.
Enquanto isso, no Brasil: Na mesma semana da morte de Floyd, o menino João Pedro, 14, foi morto dentro de casa por policiais, durante uma operação em São Gonçalo (RJ). Aqui, nunca houve uma política explícita de segregação racial, mas a desigualdade é bem demarcada etnicamente quando se olham os números. Negros compõem a maioria da população brasileira (56%) — para o IBGE, a categoria abarca pretos e pardos. Entretanto, homens negros têm expectativa de vida até 4,6 anos menor que a de homens brancos. No mercado de trabalho, uma pessoa negra e uma pessoa branca com a mesma formação têm diferença salarial de 31%. Na violência cotidiana, os dados passam batidos. "As pessoas acham que o que aconteceu com o João Pedro ou com a Ágatha foi um mero acidente. O mito da democracia racial gerou uma cegueira na população brasileira, principalmente branca, que nos faz naturalizar essas mortes", diz Brito. "A gente naturaliza e não se choca." Embora racismo seja crime no Brasil, atos racistas ainda não são percebidos com clareza pela população.
Por que não reagimos da mesma forma? O histórico do movimento por direitos civis trouxe uma consciência política para os norte-americanos ainda pouco disseminada no Brasil. Para Luciana Brito, a morte de uma pessoa negra por lá é entendida como uma ruptura do Estado democrático. Para Custódio, nossa realidade histórica é muito diferente. "Um dado fundamental que diferencia o Brasil dos EUA é a importância que a ideologia da democracia racial ainda tem na conformação das nossas relações raciais. Apesar de toda a crítica, ela ainda faz parte da gramática de expectativas sociais que são construídas, e isso está na raiz da construção da identidade brasileira."
Mas isso não significa que não há luta. Outro ponto histórico importante para entender a forma de protestar dos brasileiros é a ditadura. O movimento negro no Brasil surgiu nesse período e foi criminalizado, assim como todos os movimentos sociais que surgiram na época. "Depois da ditadura, passamos a acreditar muito na legalidade, e os movimentos adotaram um modelo antiviolento", avalia Brito. "O Brasil tem, sim, uma tradição histórica de resistência contra o racismo. Ela só não acontece da mesma maneira por razões históricas, na forma como as relações raciais foram determinadas nos dois lugares. Mas o fato de a gente não queimar pneu sempre —só de vez em quando— não significa que a reação não existe. Ela só é diferente, não é nula", pontua Custódio.
Ok, mas e a Covid-19? Com mais de 100 mil mortos pela Covid-19, ir às ruas nos EUA é abraçar muitos riscos, mas se trata de uma escolha política. "É um ato de profundo desespero, revolta e raiva", avalia Brito. Chauvin foi preso, mas a acusação que pesa contra si pode atenuar sua pena (ou até mesmo absolvê-lo). Portanto, há chances de que os protestos se intensifiquem nos próximos dias. Em coletiva de imprensa e nas redes sociais, o presidente Donald Trump prometeu acionar o exército. Para Luciana Brito, há uma intencionalidade na ação. "A intensificação dos conflitos combinam com as não-medidas do presidente para lidar com a pandemia, que saiu de controle por lá", diz. "Espero que os manifestantes recuem, porque o Estado está armado e os supremacistas brancos também. O pior pode acontecer", lamenta.





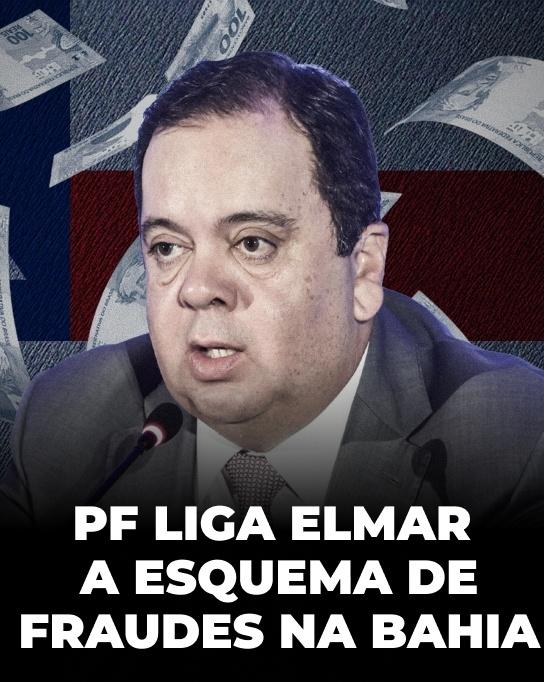












ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.