Silêncio mata: por que a pandemia da Covid-19 lembra a do HIV

Além da crise na estrutura médica e sanitária, a Covid-19 também suscita tensões de ordem ética, social e política. Estigmas, preconceitos e negacionismo vieram à baila desde que o novo coronavírus pôs em alerta o mundo inteiro. Esse cenário -- que para alguns parece novidade -- despertou na memória de ativistas, pesquisadores e médicos um paralelo histórico indireto que remete a outra pandemia, de 40 anos atrás: a do HIV.
Em números e em comportamento dos vírus, as duas doenças não são iguais, ponderam especialistas. Ao longo das quatro décadas desde os primeiros casos registrados, mais de 30 milhões de pessoas morreram em decorrência da aids - dado que ainda não é concreto com relação à covid-19. Além disso, tratram-se de formas distintas de contágio: o HIV pode ser transmitido de mãe para filho, no compartilhamento de agulhas e seringas ou pelo sexo, enquanto o Sars-CoV-2 se espalha por gotículas de saliva, em espirros e tosse, por exemplo.
"O HIV usa nosso sistema imunológico para fazer sua replicação, baixando a imunidade das pessoas. Isso acontece de forma bastante lenta, e a gente começa a ficar vulnerável a doenças oportunistas. Diferente do novo coronavírus, que penetra na via inalatória e vai predominantemente pro pulmão - onde faz uma cascata inflamatória, levantado a uma inflamação pulmonar maciça", explica a infectologista Roberta Schiavon, do Instituto Emílio Ribas. "A gente sabe também que o corona pode invadir outras células, principalmente do coração, fazendo uma miocardite (inflamação do músculo do coração) e pode invadir células do sistema nervoso central - mas isso é mais raro."
Por outro lado, porém, tanto antes quanto agora, as doenças evidenciam desigualdades sociais e esbarram em governos descrentes da ciência e despreparados para enfrentar tamanho problema.
Não à toa, a Covid-19 trouxe de volta aos holofotes figuras históricas do enfrentamento à aids, como a imunologista norte-americana Deborah Birx, que coordenou o grupo de combate ao HIV nos Estados Unidos e hoje lidera as ações da Casa Branca na nova crise da saúde. Em entrevista coletiva no mês passado, em Washington, Birx chamou as duas epidemias de silenciosas e lembrou que o enfrentamento ao HIV só foi possível graças à organização de ativistas e defensores de direitos humanos, "quando ninguém estava ouvindo".
"Suspiro de uma voz que não se ouve."* Os primeiros casos da aids surgiram nos Estados Unidos no início dos anos 1980, em pleno governo do republicano Ronald Reagan - do mesmo partido de Donald Trump. Com base eleitoral conservadora, Reagan ignorou o surto da doença, associada a um "castigo" divino aos homossexuais - maioria das pessoas infectadas com o vírus. A negação do presidente diante do problema e a consequente inércia no tratamento tornaram-se razão de morte para milhares de pessoas. Por isso, militantes gays daquele período criaram o slogan "Silêncio = Morte", que passou a estampar cartazes de movimentos de luta pelo tratamento da aids.
"A verdade escondida não me assombra mais." É nesse desdém político que a escritora e historiadora Sarah Schulman encontra paralelo com a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista, no início de abril, ao canal norte-americano CNN, ela disse que "a semelhança é que hoje também temos um governo federal monstruoso", se referindo ao presidente Trump. Professora da Universidade de Nova York e pesquisadora da história do HIV, Schulman lembrou que "no auge da crise da aids, as pessoas soropositivas, que já estavam marginalizadas, imaginavam que se o vírus estivesse afetando também as pessoas 'comuns', o governo teria reagido -- tentado ajudar". Além de lidar com uma doença até então desconhecida e muito letal, as pessoas infectadas pelo HIV também tiveram de enfrentar o estigma e a exclusão social.
"Não consigo acreditar que você me ama." Para Sarah Schulman, o momento atual tem um agravante. "Agora, temos um governo federal tão narcisista que, embora o coronavírus afete todas as pessoas no país, ele não se importa". Ao longo dos últimos meses, desde o início da pandemia do novo coronavírus, o presidente norte-americano minimizou os riscos de transmissão e disseminação da Covid-19. Somente no final de março, ele recuou e reconheceu a gravidade da situação. No último dia 7, porém, o jornal New York Times revelou que Trump havia sido avisado, ainda em janeiro, do impacto que a doença causaria nos Estados Unidos. Em cálculos de um consultor econômico da Casa Branca, o número de mortos em decorrência do vírus no país poderia chegar, a principio, a 500 mil. Em fevereiro, a soma foi atualizada para mais de 1 milhão de vítimas. A projeção oficial apresentada pelo governo dos EUA em 31 de março é a de que 100 mil a 240 mil pessoas devem morrer no país nos próximos meses.
"Por que ele deveria ser tratado diferente?" As medidas de prevenção e contenção do coronavírus trouxeram de novo ao discurso oficial um termo criticado por organizações da sociedade civil e militantes de direitos humanos: "grupo de risco". A expressão, usada para se referir hoje às pessoas com maior predisposição a pegar Covid-19 -- como idosos ou quem tem doenças crônicas -- tornou-se estigma para gays, profissionais do sexo e hemofílicos, no auge da aids. Ao TAB, o jornalista Phelipe Rodrigues, que é mestrando da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e pesquisa a comunicação do HIV em primeira pessoa, nos canais de influenciadores digitais, diz que "grupo de risco" reforça o estigma e a invisibilidade das pessoas através da linguagem. "Além de encarcerar aqueles que significam perigo para todos, também estamos dizendo que o que está fora parece não precisar dos mesmos cuidados para evitar uma infecção. Seja por HIV ou pelo coronavírus." Segundo Rodrigues, "o ideal é falar em pessoas com vulnerabilidade ao vírus" e "evitar o termo 'isolamento', que passa uma ideia de total falta de contato, adotando o 'distanciamento social', que traduz melhor o que estamos fazendo para reduzir o impacto inicial para o Sistema de Saúde nas infecções pela Covid-19".
"A ignorância não é uma benção." A substituição de "risco" por "vulnerabilidade" é uma orientação, inclusive, adotada pela Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids). Para o diretor interino da entidade no Brasil, Cleiton Euzébio de Lima, (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids), a expressão incorreta, além segregar e incitar à discriminação, causa entendimentos equivocados sobre tratamentos, como a que quem não está no grupo de maior atenção não precisa se preocupar com a doença. "No caso da Covid-19, enfocou-se muito na questão dos idosos como um grupo de risco. É verdade que os dados demonstram que a evolução da doença em idosos, pessoas diabéticas e pessoas com algumas comorbidades é diferente e, em maior percentual, essas pessoas podem enfrentar sintomas mais graves. Mas quando dizemos que eles são um grupo de risco, passamos a mensagem de que os jovens não precisam se preocupar. E os dados demonstram que isso não é verdade", lembra Lima, em entrevista ao TAB. Outra questão importante, segundo ele, é que a palavra "risco" limita a discussão a aspectos individuais, e, no caso da Covid-19, aspectos biológicos e clínicos. "Por isso o termo 'vulnerabilidades' é preferível, pois nos ajuda a entender que há elementos estruturais, sociais e econômicos que interferem nas capacidades de comunidades ou populações se prevenirem ou acessarem o tratamento", explica. É o caso de comunidades sem saneamento básico ou disponibilidade de água e sabão para higienizar as mãos, ou quem mora longe de hospitais com estrutura médica completa.
"Quem determina que sabe mais." Segundo o infectologista Rico Vasconcelos, ainda não há evidências de que as pessoas com HIV desenvolvem necessariamente casos mais graves de Covid-19. "O que não quer dizer que essas pessoas não precisem se preocupar, mas que tenham a mesma preocupação que as demais", afirma. "Se é uma pessoa que tem aids e com imunidade deficiente, aí precisa de atenção especial, como outros imunodeprimidos", diz. Coordenador do ambulatório especializado em HIV do Hospital das Clínicas de São Paulo, Vasconcelos explica que, ao contrário do que aconteceu em outras epidemias de vírus respiratórios, que soropositivos tinham maior chance de quadros graves, desta vez os índices são menores. 'Uma das hipóteses é o uso de antirretrovirais. Mas ainda não há certeza sobre isso." No início de abril, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) divulgou o resultado de um estudo realizado in vitro com o medicamento atazanavir, fabricado no Brasil e usado no tratamento do HIV, em que se constatou a capacidade dele de inibir a replicação do novo coronavírus e reduzir a proteção de proteínas causadoras de inflamação nos pulmões.
"Amanhã é um outro dia, não é?" Na crise da covid-19, o preconceito sobre a doença ganha ainda outro elemento semântico: a expressão racista "vírus chinês", como lembra o infectologista Rico Vasconcelos. O termo usado por Trump para se referir ao novo coronavírus despertou uma onda xenofóbica contra asiáticos, e no Brasil encontrou eco até em postagens de políticos como o deputado federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PSL-SP). "Existe uma tentativa de estigmatizar a população chinesa em relação ao vírus. Coisa que a gente não vê com a Itália, por exemplo, que teve muito mais casos de mortes", diz Vasconcelos. No início da aids, a síndrome foi chamada de "Grid", "para gay" e "câncer gay". "Outro estigma que tenho visto é com profissionais da saúde. Já li notícias de agressões e discriminação em espaços públicos por estarem vestindo um jaleco ou roupa branca. As pessoas têm medo de se infectar e por isso rechaçam esses profissionais."
"Todo mundo sabe que você vive para sempre". O escritor João Silvério Trevisan foi um dos pioneiros na articulação política em torno do tratamento da aids no Brasil. Autor de "Devassos no Paraíso", livro no qual retrata a história da homossexualidade brasileira, Trevisan diz que embora tenham diferenças entre si, inclusive pelo tipo de vírus, as duas pandemias se assemelham pela "doença moral que elas suscitam". "Trata-se do mesmo fanatismo moralista e crendice na desrazão", afirma. Segundo ele, "Hoje temos pessoas que negam o impacto do coronavírus - provavelmente as mesmas que negam a forma esférica da Terra - contra todas as evidências científicas", diz. "Hoje [o negacionismo diz que] quem morrerá são os velhos, doentes e fracotes - os atletas estão salvos. Nos tempos explosivos da aids, os condenados eram sobretudo homossexuais, promíscuos e drogados - os tais 'grupos de risco.'"

"São apenas um artefato brilhante do passado." No entanto, acrescenta o escritor, nos dois contextos de crise da saúde percebe-se o controle político sobre a vida e a morte das pessoas. "Hoje temos uma multidão fanatizada pelo sonho de um Messias na presidência do país, que protagoniza todo tipo de mentira para retroalimentar seu exército religioso e ideológico. No período da eclosão da aids, tínhamos lideranças conservadoras dispersas em vários setores - desde bispos e pastores até médicos e professores - que aproveitavam sua missão higienista para moralização da sociedade", conta. "Em ambos os casos, o pânico gera um clima propício para oprimir os mais fragilizados e impor ideias autoritárias, a partir de oportunismos políticos."
"Todo mundo sabe." "A pandemia da aids, porém, lembra João Silvério Trevisan, obrigou a sociedade "a encarar essa realidade que nos desagrada tanto: somos desamparados e inevitavelmente sujeitos à morte". "Naquele período, infelizmente, era mais fácil delegar esse desamparo aos desviantes sexuais que 'mereciam sua morte', segundo a autoridade normatizadora. Espero que hoje a experiência com a Covid-19 e sua quarentena compulsória nos faça compreender que toda sociedade é um composto inevitavelmente entretecido. Se vida e morte são experiências pessoais e intransferíveis, em sociedade ninguém vive ou morre sozinho."
* As frases que abrem os parágrafos são trechos de músicas que abordam o contexto da pandemia da aids. As frases 1, 2 e 3 são de "The Last Song", cantada por Elton John; 4, 5 e 6 são de "In This Life", cantada por Madonna; a 7 é de "Via Láctea", de Renato Russo; de 8 a 9, "Everybody Knows", gravada por Leonard Cohen.





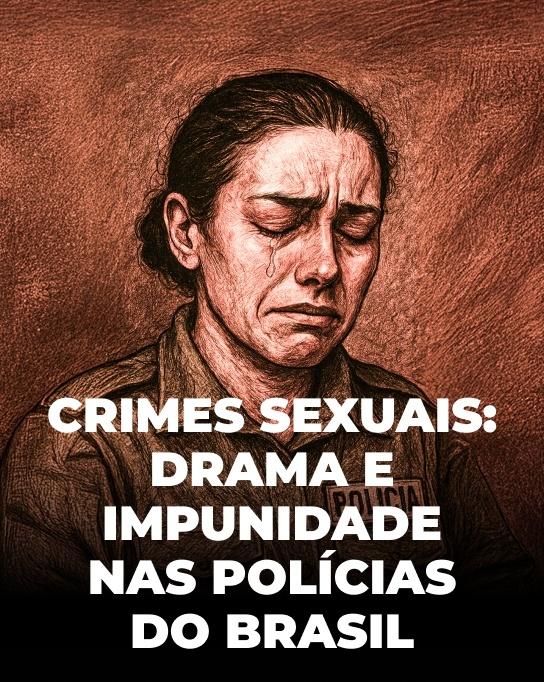












ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.